Docente: Bianca Freire-Medeiros
- Objetivos
-
Ecoando as premissas da linha de pesquisa “CIDADES: Interações, desigualdades e (i)mobilidades socioespaciais”, a esta disciplina corresponderá um programa intenso, avançado e especializado de leituras sobre a chamada virada das mobilidades, seus principais conceitos, temas e protocolos metodológicos. Conhecimentos básicos do debate que anima a teoria social contemporânea (especialmente as “teorias da globalização”) é um requisito importante para o acompanhamento satisfatório deste curso. Espera-se que cada participante produza, a partir de seu material empírico de pesquisa, reflexões que incorporem a analítica das mobilidades.
- Justificativa
-
Em termos gerais, autores/as alinhados/as com o giro móvel partem do entendimento das mobilidades como um entrelaçamento de movimento, representações e práticas socioespaciais, regulado por normas e saberes, e dependente de infraestruturas materiais cada vez mais conectadas. Se é incontestável o fato de que há um incremento nos fluxos de corpos, objetos e informações, isso não significa que o estado das relações sociais tenha passado de sólido a líquido: às dispersões geográficas próprias da globalização, corresponde uma crescente concentração territorial de recursos – humanos e materiais – necessários à sua administração. A proposta da guinada móvel opõe-se, assim, tanto ao sedentarismo quanto ao nomadismo epistêmicos em favor do exame das mobilidades e imobilidades constitutivas do funcionamento das instituições e dos regimes de poder.
Ainda que a mobilidade, como operador analítico-metodológico, não diga respeito a um objeto e, tampouco, seja de domínio exclusivo de um referente teórico ou campo disciplinar, aqui iremos privilegiar a guinada epistêmica gerada pelo new mobilities paradigm, enfocando de maneira mais detida o arcabouço conceitual do sociólogo John Urry e de seus colaboradores. A costura entre reflexão teórico-conceitual e pesquisa empírica atravessará o curso, daí o formato de “leituras avançadas”: espera-se que discentes construam pontes de interlocução entre o que informam a bibliografia de referência e o seu próprio campo de pesquisa. O objetivo, portanto, é habilitar discentes a fazer um uso criativo da lente das mobilidades diante de objetos, temas e escalas de observação variados.
- Forma de Avaliação
Este curso pressupõe a leitura de todos os textos indicados e engajamento com as discussões coletivas. Teremos duas frentes de avaliação.- Para as leituras de tipo A: resumos críticos feitos em dupla. É fundamental que o texto seja resultado de uma boa discussão, aberta e horizontal.
- Para as leituras de tipo B: produção individual de um texto orientado à pesquisa, construído em torno da seguinte pergunta: como os métodos, técnicas e estratégias apresentados pelas pessoas autoras me inspiram a enfrentar os desafios metodológicos impostos pelo meu campo empírico?
Cada estudante deverá entregar 3 resumos críticos (em dupla) e 3 textos orientados à pesquisa (individuais). A nota final levará em consideração a qualidade dos textos produzidos e a participação durante as aulas. Atenção às datas de entrega!
Resumos críticos (RC)
• Entre 5 e 7 páginas em espaço 1.5;
• Cabeçalho: nome da dupla e informação bibliográfica completa do texto em questão;• 3 partes:
a) breve contextualização: quem são as pessoas autoras (lugar institucional e disciplinar à época da publicação - até 5 linhas)? O que é relevante saber sobre o formato editorial (qual o contexto do capítulo de livro ou do artigo – até 5 linhas). No caso de textos traduzidos, observar a data de publicação original.
b) argumento central: um resumo o mais objetivo possível do conteúdo;
c) apreciação crítica: até que ponto o argumento apresentado contribui para uma compreensão não-sedentária de um ou mais de temas e conceitos que atravessam o curso: território, espaço, lugar; desigualdade e segregação; poder, ordem e conflito.Textos orientados à pesquisa (TP)
• Entre 5 e 7 páginas em espaço 1.5;
• Cabeçalho: seu nome e informação bibliográfica completa do texto em questão;• 2 partes:
a) breve contextualização: quem são as pessoas autoras (até 5 linhas)? O que é relevante saber sobre o formato editorial (até 5 linhas)?
b) desenvolvimento da resposta à pergunta norteadora. Que métodos, técnicas e estratégias analíticas são apresentados no texto? Como me inspiram a enfrentar certos desafios metodológicos próprios ao meu objeto de pesquisa?- Conteúdo
-
Aula 1: 05 março
Apresentação do programa do curso. Discentes deverão se preparar para expor brevemente as linhas gerais dos seus projetos de pesquisa, explicitando o nível de familiaridade com a analítica das mobilidades e suas expectativas em relação ao curso.
Aula 2: 12 março
#A
Urry, John (2013) Sociologia móvel. Lima, Jacob (org.) Outras Sociologias do Trabalho: Flexibilidade, emoções e mobilidades. São Carlos: EdUFSCAR.
#B
Complementares:
Massey, Doreen (2007) Imaginando a Globalização: geometrias de poder de tempo-espaço. Revista Discente Expressões Geográficas, n. 03, p. 142-155.
Aula 3: 19 março
#A
Urry, J. (2007) Mobilities. Cambridge: Polity Press. Capítulo 2.
#B
Imilan, Walter; Jirón, Paola (2018). Moviendo los estudios urbanos. La movilidad como objeto de estudio o como enfoque para comprender la ciudad contemporánea. Quid 16: Revista del Área de Estudios Urbanos. Santiago, n. 10, pp. 17-36.
Complementares:
Freire-Medeiros, Bianca & Lages, Mauricio (2020). A virada das mobilidades: fluxos, fixos e fricções. Revista Crítica de Ciências Sociais, 123, 121-142.
Sheller, M. & Urry, J. (2006). The new mobilities paradigm. Environment & Planning A, 38(2).
Hannam, K.; Sheller, M.; Urry, J. (2006). Editorial: Mobilities, Immobilities and Moorings. Mobilities. [Online], v. 1, n. 1, pp. 1-22.
Simmel, Georg (1996), “A ponte e a porta”, Revista Política & Trabalho, 12, 11‐15.
Aula 4: 26 março
#A
Cresswell, Tim (2009) Seis Temas na Produção das Mobilidades. In Carmo, Renato M. & Simões, J. A. (orgs.). A Produção das Mobilidades. Redes, Espacialidades, Trajetos. Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
#B
Jirón, Paola (2012). Transformándome en la sombra. Bifurcaciones, Revista de Estudios Culturales Urbanos.
Complementares:
Cresswell, T. (2006). On the move. Mobility in the modern western world. London: Routledge.
Larsen, Jonas; Axhausen, Kay W. & Urry, John (2006): Geographies of Social Networks: Meetings, Travel and Communications. Mobilities, 1:2, 261-283
Merriman, P., G. Revill, T. Cresswell, H. Lorimer, D. Matless, G. Rose, and J. Wylie. (2008). Landscape, Mobility and Practice. Social and Cultural Geography 9 (2): 191–212. Sacramento, O. (2017) Sociedade, espaço e fluxos: reflexões sobre processos transnacionais. Tempo Social, v. 29, n. 2, pp. 287-304.
Sheller, M. & Urry, J. (2016). Mobilizing the new mobilities paradigm. Applied Mobilities, 1(1).
Aula 5: 2 abril
#A
Kaufmann, V.; Bergman, M. M. & Joye, D. (2004). Motility: Mobility as capital. International Journal of Urban and Regional Research, 28(4), 745-756.
#B
Segura, Ramiro. Hacer Metrópoli. Viaje, Narración y Experiencia Metropolitana desde el Sur del Gran Buenos Aires. Iluminuras, Porto Alegre, v. 21, n. 54, p. 46-74, setembro, 2020
Complementares:
Kronild, D. (2008). Mobility as Capability. In: Uteng, T. (org.) Gendered mobilities. Londres, Routledge, pp.13-34.
Lages, Mauricio P. (2023). Os chefs e suas criações: mobilidades culinárias nos restaurantes de São Paulo. [Tese de doutorado em Sociologia, Universidade de São Paulo].
Urry, J. (2004). Connections. Environment and Planning D., v. 22, n. 1, pp. 27-37.
Urry, J. (2012). Social networks, mobile lives and social inequalities. Journal of Transport Geography. [Online], v. 21, pp. 24-30.
09 de abril não haverá aula: Primeira entrega: 1 RC + 1TP
Aula 6: 16 de abril#AUrry, J. (2007) Mobilities. Cambridge: Polity Press. Capítulos 6 e 9.Complementares:Allis, Thiago; Moraes, Camila & Sheller, Mimi. (2020) Revisitando as mobilidades turísticas. Revista Turismo em Análise. 31(2):271-295.Freire-Medeiros, B.; Magalhães, Alexandre & Menezes, Palloma (2023). Mobilidades e infraestruturas: algumas possibilidades interpretativas. Revista Brasileira de Sociologia, v. 11 n. 28 (2023): (I)mobilidades socioespaciais e suas infraestruturas.
Sheller, Mimi (2014), Sociology After the Mobilities Turn. In Adey et al. (orgs.), The Routledge Handbook of Mobilities. London: Routledge, 45‐54.
Sheller, Mimi (2017) From spatial turn to mobilities turn. Current Sociology, Vol. 65(4) 623–639.
Aula 7: 23 de abril
#A
Adey, Peter. (2010). Mobility. London & New York: Routledge. Capítulo 3.
#B
Feltran, G., & Fromm, D. (2020). Ladrões e caçadores: sobre um carro roubado em São Paulo. Antropolítica - Revista Contemporânea De Antropologia, (50).
Complementares:
Bærenholdt, Jørgen Ole (2013) Governmobility: The Powers of Mobility. Mobilities, 8:1.
Cresswell, Tim (2014). Friction. In The Routledge Handbook of Mobilities. London: Routledge.
Freire-Medeiros, B., Motta, L., & Fromm, D. (2023). Carros globais, desigualdades transnacionais: sobre a economia (in)formal de veículos. Tempo Social, 35(1), 5-15.
Kauffman, V. (2002). Re-thinking mobility. Contemporary sociology. Aldershot, Ashgate.
Kesselring, S. (2015). Corporate Mobilities Regimes. Mobility, Power and the Socio-geographical Structurations of Mobile Work. Mobilities, 10(4), 571-591.
Madianou, Mirca (2016). Ambient co-presence: transnational family practices in polymedia environments. Global Networks 16, 2 (2016) 183–201.
Aula 8: 30 de abril
#A
Sheller, Mimi (2018), Mobility Justice. The Politics of Movement in an Age of Extremes.
London: Verso. Capítulo 2.
#B
Telles, Vera (2006) Trajetórias urbanas: fios de uma descrição da cidade. In Telles, V. & Cabanes, R. Nas tramas da cidade: trajetórias urbanas e seus territórios. São Paulo: Associação Editorial Humanitas.
Complementares:
Baker, B. (2016). Regime. In: Salazar, N.; Jayaram, K. (orgs.). Keywords of Mobility: Critical engagements. NY; Oxford, Berghahn Books.
Freire-Medeiros, Bianca, Aderaldo, Guilhermo, & Duarte, Fernanda. (2022). Fronteiras, ativismos e (i)mobilidades: perspectivas estético-políticas. Cadernos de Arte e Antropologia, 11(1), 3-14.
Jirón, P.; Gómez, J. (2018). Interdependencia, cuidado y género desde las estrategias de movilidad en la ciudad de Santiago. Tempo Social. São Paulo, v. 30, n. 2, pp. 5-72.
Menezes, Palloma V. (2023) Entre o fogo cruzado e o campo minado: a “pacificação” das favelas cariocas. Editora UFRJ.
Nogueira, Maria Alice & Borges, Andreia (2022). When public health policies fail: Community management in the fight against the COVID-19 pandemic in Paraisópolis, São Paulo. In: Nogueira, M. A. (Org.) Alternative (Im)Mobilities. Londres: Routledge.
Silva, Gleicy (2023) Políticas do empoderamento: feminismo, empreendedorismo e mediação em perspectiva móvel. Revista Brasileira de Sociologia, v. 11 n. 28 (2023): (I)mobilidades socioespaciais e suas infraestruturas.
Vidal e Souza, Candice. (2023) Mobilidade e cidade: epistemologia e pesquisa. Tempo Social, 35(1), 217-236.
Aula 9: 07 de maio:
#A
Sheller, M. (2023). Reparações infraestruturais: reconcebendo a justiça restaurativa no Haiti e em Porto Rico. Revista Brasileira de Sociologia - RBS, 11(28).
#B
Çağlar, Ayşe & Glick Schiller, Nina (2018) Migrants and City-Making: Dispossession, Displacement, and Urban Regeneration. Durham, N.C.: Duke University Press. Introduction.
Complementares:
Glick Schiller, Nina & Çağlar, Ayşe (2011) Locality and Globality: Building a Comparative Analytical Framework in Migration and Urban Studies. In Locating Migration: Rescaling Cities and Migrants. Cornell University Press.
Sheller, Mimi (2018), Mobility Justice. The Politics of Movement in an Age of Extremes.
London: Verso. Capítulo 5.
Wimmer, Andreas; Glick Schiller, Nina (2002), “Methodological Nationalism and Beyond: Nation‐State Building, Migration and the Social Sciences”, Global Networks, 2(4), 301‐334.
14 de maio não haverá aula: Estudantes fortemente encorajadas a participar do GT Mobilidades no evento: 1º Congresso Internacional e Multidisciplinar sobre o Urbano
Aula 10: 21 de maio
Participação do Prof. Guilhermo Aderaldo (UNESP/Marília)
#A
Freire-Medeiros, B. (2024) A metrópole do capital de rede: mobilidades socioespaciais e iniquidades urbanas. Cadernos Metrópole, v. 26, n. 60.
#B
Aderaldo, Guilhermo (2019). Periferias “móveis”: seguindo experiências de realizadores (áudio)visuais nas margens da metrópole. Souza, Candice Vidal; Guedes, A. D. (orgs.) (2021). Antropologia das mobilidades. Brasília, ABA Produções.
Complementares:
Agier, Michel. (2015). Questões de método: repensar o deslocamento hoje (Capítulo 4), in: Agier, Michel. Migrações, descentramento e cosmopolitismo: uma antropologia das fronteiras, Maceió/São Paulo, Edufal/Edunesp.
Aderaldo, Guilhermo (2019). “Visualidades urbanas e poéticas da resistência: reflexões a partir de dois itinerários de pesquisa”. Antropolítica, n 45 (2): 66-93.
Larsen, J.; Urry, J. (2006). Mobilities, networks, geographies. Farnham, Ashgate.
Mano, Apoena (2021). Morro de medo: regimes de mobilidades após uma década de Unidades de Polícia Pacificadora em favelas do Rio de Janeiro. Ponto Urbe, 28.
McGahern, Una (2023). Cross-border mobilities: mobility capital and the capital accumulation strategies of Palestinian citizens of Israel. Mobilities.
Xiang, B. (2021). The Emerging ‘Mobility Business’. MoLab Inventory of Mobilities and Socioeconomic Changes. Halle/Saale: Anthropology of Economic Experimentation, Max Planck Institute for Social Anthropology
28 de maio não haverá aula: Segunda entrega: 1 RC + 1TP
Aula 11: 4 de junho
#A
Dahinden, Janine; Jónsson, Gunvor; Menet Joanna, Schapendonk, Joris & Emil van Eck (2023): Placing regimes of mobilities beyond state-centred perspectives and international mobility: the case of marketplaces. Mobilities, v. 18, n. 4.
#B
Fleischer, Friederike & Marín, Keren (2019) Atravesando la ciudad. La movilidad y experiencia subjetiva del espacio por las empleadas domésticas em Bogotá. EURE (Santiago) vol.45 no.135.
Complementares:
Carse, Ashley; Middleton, Townsend; Cons, Jason; Dua, Jatin; Valdivia, Gabriela & Dunn Elizabeth, Cullen (2020): Chokepoints: Anthropologies of the Constricted Contemporary, Ethnos.
Lancellotti, H. (2023). Tornozeleiras eletrônicas, mobilidades e construção de subjetividades: a constituição de uma infraestrutura de vigilância penal. Revista Brasileira De Sociologia - RBS, 11(28), 75–97.
de Souza e Silva, Adriana; Frith, Jordan (2010), “Locative Mobile Social Networks: Mapping Communication and Location in Urban Spaces”, Mobilities, 5(4), 485‐505
Elliott, Anthony; Urry, John (2010), Mobile Lives. London: Routledge.
Mata-Codesal, Diana (2015): Ways of Staying Put in Ecuador: Social and Embodied Experiences of Mobility Immobility Interactions, Journal of Ethnic and Migration Studies.
Shamir, Ronen (2005), “Without Borders? Notes on Globalization as a Mobility Regime”, Sociological Theory, 23(2), 197‐217.
Aula 12: 11 de junho
#A
Slape, Anna W.; Zittoun, Tania; Pedersen, Oliver C.; Dahinden, Janine & Emmanuel Charmillot (2023) Places and mobilities: studying human movements using place as an entry point. Mobilities, 18:4.
25 de junho: Terceira entrega: 1 RC + 1TP
- Outras referências
- ADERALDO, Guilhermo. 2017. Reinventando a cidade: uma etnografia das lutas simbólicas entre coletivos culturais vídeo-ativistas nas “periferias” de São Paulo. São Paulo: Annablume/ Fapesp.
BAUMAN, Z. (1999). Globalização. As consequências humanas. Rio de Janeiro, Jorge Zahar.
BUMACHAR, Bruna (2016). “As vídeo-cartas como experimento etnográfico
transnacional”, in: BUMACHAR, Bruna. Nem dentro, nem fora: a experiência prisional
de estrangeiras em São Paulo. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas,Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. 2016. Pp. 280-328.
BUSCHER, Monika, Urry, John, & Witchger, Katian (ed.). (2010) Mobile methods. Routledge.
BUSCHER, Monika, & Veloso, Leticia. (2018). Métodos móveis. Tempo Social, 30 (2), 133-151.
CARMO, Renato M., & Hedberg, Charlotta. (2019). Translocal mobility systems: Social inequalities and flows in the wild berry industry. Geoforum, 99, 102–110.
CAIAFA, J. (2013). Trilhos da cidade: viajar no metrô do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 7 Letras.
FEATHERSTONE, M. (org.). (2004). Automobilities. Theory, Culture & Society. Londres, v. 21, n. 4-5.
FRANÇA, D. (2017). Segregação racial em São Paulo: residências, redes pessoais e trajetórias urbanas de negros e brancos no século XXI. Tese de doutorado. São Paulo, Universidade de São Paulo.
FREHSE, F. (2018). “On the everyday history of pedestrians’ bodies in São Paulo’s downtown amid metropolization (1950–2000)”. In: FREIRE-MEDEIROS, B.; O’DONNELL, J. (orgs.). Urban Latin America: Images, Words, Flows and the Built Environment.
FREIRE-MEDEIROS, B. (2022). A aventura de uns é a miséria de outros: Mobilidades socioespaciais e pobreza turística. Tese de Livre-docência. São Paulo, Universidade de São Paulo.
FREIRE-MEDEIROS, Bianca; NAME, Leo (2019). Epistemologia da laje. Tempo
Social, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 153-172
FREITAS, J. (2018). A invenção da cidade inteligente Rio: uma análise do centro de operações Rio pela lente das mobilidades (2010-2016). Tese de doutorado. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas.
FROMM, D. (2022). A Indústria da Proteção: Sobre as interfaces entre seguros, segurança e seguridade. Tese de doutorado. Campinas, Universidade Estadual de Campinas.
GRANOVETTER, M. S. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology. Chicago, v. 78, n. 6, pp. 1360-1380.
HEIDEGGER, M. (1993). “Building dwelling thinking”. In: HEIDEGGER, M. Basic writings. New York, Harper Collins.
JIRÓN, P. (2017). “Planificación urbana y del transporte a partir de relaciones de interdependencia y movilidad del cuidado”. In: RICO, M. N.; SEGOVIA, O. (orgs). ¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para políticas urbanas de igualdad. Santiago, CEPAL.
LOGIODICE, P. (2023). Injustiça na mobilidade urbana. Dissertação de Mestrado. São Paulo, Universidade de São Paulo.
MADIANOU, M. (2016). “Polymedia communication among transnational families: what are the long-term consequences for migration?” In: PALENGA, E.; KILKEY, M. (orgs.). Family Life in an Age of Migration and Mobility: Global Perspectives through the Life Course. London, Palgrave.
MARTIN, Fran (2017): Rethinking network capital: hospitality work and parallel trading among Chinese students in Melbourne. Mobilities.
MARTÍNEZ, C. F; CLAPS, R. F. (2015). “Movilidad femenina: los reveses de la utopía socio-espacial en las poblaciones de Santiago de Chile”. Revista de Estudios Sociales. [Online], n. 54, pp. 52-67.
MASSEY, D. (1993). “Power geometry and a progressive sense of place”. In: BIRD, J. et al. (orgs.). Mapping the futures. Local cultures, global change. London, Routledge.
NOGUEIRA, Maria Alice, & Moraes, Camila dos S. (org.). (2020). Brazilian Mobilities. Routledge
MENDES, Vinicius de S. (2021a). “Orgullo y Devoción": seguindo as fraternidades folclóricas bolivianas em São Paulo. [Dissertação de Mestrado em Sociologia, Universidade de São Paulo]. doi:10.11606/D.8.2021.tde-01092021-174531.
MERRIMAN, Peter. (2016). Mobility infrastructures: modern vision, affective environments and the problem of car parking. Mobilities, 11(1), 83-98.
MERRIMAN, Peter. (2012). Mobility, Space and Culture. Routledge.
MOISES, J. A. (1978). A Revolta dos Suburbanos ou Patrão, o Trem Atrasou. Contradições Urbanas e Movimentos Sociais. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
PERALVA, A.; TELLES, V. S (orgs.). (2015). Ilegalismos na Globalização: Migrações, trabalho, mercados. Rio de Janeiro, Editora UFRJ.
SANTARÉM, P. H. (2021). “Ensaio sobre a mobilidade racista”. In: SANTINI, D.; SANTARÉM, P.; ALBERGARIA, R. (orgs.). Mobilidade antirracista. São Paulo, Autonomia Literária.
SASSEN, S. (1994). Cities in a World Economy. Thousand Oaks-London-New Delhi: Pine Forge Press.
SCHILLER, N. G.; SALAZAR, N. (2013). Regimes of Mobility Across the Globe. Journal of Ethnic and Migration Studies. [Online], v. 39, n. 2, pp. 183-200.
SHELLER, M. (2008). “Gendered mobilities: epilogue.” In: UTENG, T.; CRESSWELL, T. (orgs.). Gendered Mobilities. London, Routledge.
SILVA, R. B, (2014) Mobilidade precária na metrópole: problemas socioespaciais dos transportes no cotidiano de São Paulo - da exceção à regra. Tese de doutorado. São Paulo, Universidade de São Paulo.
SILVEIRA, L. et al. (2022). Mobilidade urbana saudável no cruzamento das avenidas identitárias: experiências móveis de mulheres pretas. Ponto Urbe. [Online], n. 30, v.1, pp. 1-19.
SIMMEL, G. ([1903], 2005). As grandes cidades e a vida do espírito. Mana. [Online], v. 11, n. 2, pp. 577-591.
SOUZA, C. V.; GUEDES, A. D. (orgs.). (2021). Antropologia das Mobilidades. Brasília, ABA Produções.
TARRIUS, A. (2002). La mondialisation par le bas. Paris, Balland.
TELLES, V. S. (2011). A cidade nas fronteiras do legal e ilegal. Belo Horizonte, Argvmentvm.
TORPEY, J. (2001). The invention of the passport. Surveillance, Citizenship and the State, Cambridge, Cambridge University Press.
TSING, A. (2022). O cogumelo no fim do mundo: Sobre a possibilidade de vida nas ruínas do capitalismo. São Paulo, N-1 Edições.
URRY, J. (2000). Sociology beyond societies. Mobilities for the twenty-first century. London, Routledge.
URRY, J. (2002). Global Complexity. Cambridge, Polity Press.
URRY, J. (2014). Offshoring. London, Zed Books.
URRY, J.; LARSEN, J. (2021). O olhar do turista 3.0. São Paulo, Edições SESC.
ZUNINO SINGH, D. (2018). Cidades, práticas e representações em movimento: notas para uma análise cultural da mobilidade como experiência urbana. Tempo Social. São Paulo, v. 30, n. 2, pp. 35-54.
ZUNINO SINGH, D.; JIRÓN, P.; GIUCCI, G. (orgs.). (2020). Términos clave para los estudios de movilidad en América Latina. Buenos Aires, Editorial Teseo.
ZUNINO SINGH, D.; JIRÓN, P.; GIUCCI, G. (orgs.). (2023). Nuevos términos clave para los estudios de movilidad en América Latina. Buenos Aires, Editorial Teseo.
- Trabalhos finais pt. 1
-
Sociologia Móvel
URRY, John. Sociologia Móvel. In: Outras sociologias do trabalho: Flexibilidade, emoções e mobilidades. São Carlos: EdUFSCAR, 2013 [2000].
Bruno Vieira Borges
Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo (PPGS-USP). Pesquisador associado ao Observatório do Lazer e do Esporte (OLÉ) e do grupo de pesquisa Mobilidade: Teoria, Temas e Métodos (MTTM). E-mail: brunovieiraborges@usp.br
Guilherme Olímpio Fagundes
Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo (PPGS-USP). Pesquisador associado ao Centro de Inteligência Artificial (C4AI/USP) e do grupo de pesquisa Mobilidade: Teoria, Temas e Métodos (MTTM). E-mail: guilherme.olimpio@usp.br
Contextualização
O texto em foco é de John Urry. Embora graduado em Economia pela prestigiada Cambridge University, foi no domínio da Sociologia que o autor mais se destacou, tornando-se um de seus principais nomes, sobretudo, nos anos 1990 e 2000. Sua “fiel” vida institucional centrou-se na Lancaster University, onde passou quase cinco décadas, ajudou a fundar o Center for Mobilities Research (CeMoRe) e obteve o importante título de Distinguished Professor (FREIRE-MEDEIROS, 2016:139-140).
Originalmente publicado no primeiro fascículo do 51º volume do The British Journal of Sociology, o qual reuniu uma série de autores interessados em refletir sobre os dilemas da globalização, o artigo Mobile Sociology figura entre os mais relevantes da década de 2000. Em 2013, foi traduzido para compor a coletânea “Outras sociologias do trabalho”. Será essa versão a que analisaremos.
Argumento Central
Tendo em vista as mudanças sociais ocorridas na segunda metade do século XX, John Urry questiona se a “sociedade” permanece relevante enquanto premissa atemporal e, em especial, como sendo o objeto sociológico por excelência (URRY, 2013:43). Tradicionalmente compreendido com base nos “estados-nacionais”, o conceito amplo de “sociedade” alicerçou em seu núcleo conceitos de “soberania”, “cidadania nacional” e “governabilidade” pouco receptivos às relações sociais que extrapolam os limites territoriais formalmente estabelecidos (URRY, 2013:47).
Urry identifica o esgotamento desse princípio explicativo. Para ele, há uma interdependência global produtora de mundos sociais designados por fluxos, circulações, esperas e entraves que se dão em diferentes escalas e ritmos. Nesse sentido, torna-se vital reconsiderar as metáforas interpretativas que são adotadas na produção do conhecimento social. Em diálogo com Mol e Law (1994), Urry cita três delas que estão associadas ao espaço: regiões, redes e fluidos. Se o primeiro corresponde a objetos agrupados em um local cujos limites são delineados ao seu redor e o segundo entende a distância como fruto das relações entre componentes das redes, o terceiro atribui uma maior fluidez às fronteiras, captando suas porosidades e vazões (URRY, 2013:50).
O que favorece o alcance global de uma ação é sua adesão a uma rede, estrutura aberta dinamicamente e capaz de produzir comunicação com novos nós. Quando a rede se estabiliza, os nós aumentam de escala (URRY, 2013:52). Nesse sentido, o sociólogo introduz a importante ideia de scape, que sinaliza como redes de máquinas, tecnologias, organizações, textos e atores constituem vários ‘nós’ interconectados e responsáveis por mediar a transmissão desigual dos fluxos em diferentes escalas (URRY, 2013:53). Se as redes dão sustentação a organizações, os fluidos são mais desinstitucionalizados, viscosos, sem finalidade inerente, com seus próprios traçados (URRY, 2013:54).
A conclusão de Urry é que a sociologia tradicional não oferece caminhos interpretativos satisfatórios para cobrir e incorporar as “complexidades” e os “híbridos” que pautam e surgem desse mundo de (i)mobilidades. As noções de “complexidade”, elaboradas em diálogo com as “ciências duras”, em especial com os estudos da “virada quântica” e da teoria do caos, apontam para o grande número de elementos que se relacionam entre si na contemporaneidade, englobando, ao longo do tempo, ciclos positivos e negativos de retroalimentação (ou feedback). A cada iteração, efeitos emergentes não intencionais, não lineares e, até mesmo, irreversíveis, são aflorados. Em outras palavras, Urry incita-nos a verificar como pequenas relações entre elementos podem produzir consequências mais amplas (URRY, 2013:56), isto é, os efeitos dos sistemas híbridos (entre humanos e não-humanos) que configuram as mobilidades não são previsíveis, embora igualmente estejam longe de serem anárquicos ou totalmente desordenados. Os processos de “centriferia”, recuperados por Urry de Baker (1993), exemplificam como instituições sociais, políticas e econômicas estão em desequilíbrio.
Como possibilidade, Urry advoga por uma sociologia “pós-disciplinar”, que aproveite de seu menor engessamento institucional para acolher contribuições de outras ciências e ser, assim, atenta às mobilidades de corpos, ideias, materialidades, e às complexas redes de interdependências que as sustentam (URRY, 2013:62).
Apreciação Crítica
Urry oferece, em seu artigo, elementos para uma sociologia móvel que dê conta da emergência de uma sociedade que não está autocontida em seus limites territoriais. O autor sugere que até mesmo no auge dos “Estados-nação” era impossível falar em autonomia irrestrita por parte dos Estados, havendo, na verdade, um sistema entre eles (URRY, 2013:47). No entanto, poderíamos arrastar essa máxima para uma história de longuíssima duração. Braudel (1983) foi cirúrgico ao ler o Mediterrâneo, para além de uma sucessão de mares, como um “encontro de civilizações”, um conjunto de atividades econômicas, políticas, militares, linguísticas e culturais.
De qualquer maneira, John Urry insere-se numa espécie de zeitgeist. Em especial no último par de décadas do século XX, emergiram constelações teóricas acerca da fluidez social, do fim do capitalismo organizado, da sociedade em rede, dos limites do estado de bem-estar, do aumento do risco, e assim por diante. Com suas particularidades e divergências, o centro de atração entre autores como Beck, Bauman, Castells, Lash, Law, Lyotard e o próprio Urry girou em torno da necessidade de oferecer leituras para o impacto profundo causado pelas novas tecnologias, em especial a nova estrutura de comunicação, nas sociabilidades em escala global.
Como sublinharam Freire-Medeiros e Lages (2020:121), o resultado dessa empreitada foi a reconfiguração de noções que eram tomadas como autoevidentes. Para muitos autores clássicos, “sociedade” é, ao mesmo tempo, um objeto de estudo e uma premissa atemporal – raciocínio que serviu à consolidação da sociologia enquanto disciplina e ciência. No entanto, “sociedade” é, com efeito, um construto geohistoricamente delimitado e não se reduz a contraposição de fatos sociais a fatos naturais. Para Urry (2013:49), em um mundo em que na vanguarda dos processos sociais temos não-humanos, torna-se especialmente obsoleto operar nesses termos.
Por conta dessa carência e de outros questionamentos, novas metáforas surgiram com a finalidade de aproximar, semanticamente, este mundo social on the move da escrita acadêmica. É importante, nesse sentido, compreender “Sociologia móvel” como um artigo exploratório. O vocábulo “fluido” que nele aparece, débito da difusão massiva das ideias de Bauman, não foi mais recuperado por Urry dessa forma em argumentos posteriores. Igualmente, a noção de “rede”, inspirada em Mol e Law (1994) e Castells (1996), foi sendo revista pelo sociólogo britânico em razão de seu investimento intelectual na importância dos “laços fracos”, de modo a recusar “rede” como fator explicativo absoluto (FREIRE-MEDEIROS & LAGES, 2020:125).
Em defesa de uma sociologia que deve mirar a “transdisciplinaridade” ou, no limite, ser “pós-disciplinar”, John Urry (2013:62) pensa nos sistemas complexos como forma de capturar as diversas interdependências híbridas que caracterizam o mundo contemporâneo. Ao produzir uma “teorização mais móvel”, o autor não almeja uma apologia dos movimentos, como se estivéssemos vivendo em uma era líquida por excelência. Ao contrário, em diálogo com autores como Brunn e Leinbach (1991), Urry propõe-se a pensar sobre as desigualdades de fluxo e estagnação: Quem pode se mover? Quem é forçado a se mover? Quem não pode se mover? Quem faz valer o privilégio de ficar parado? Para Urry (2013:53), perguntas aparentemente simples como essas estão no cerne constitutivo das instituições e práticas; devemos tratá-las com seriedade.
Quando falamos de desigualdade – como a de fluxo –, precisamos pensar nos recursos ou recompensas que estão em disputa pelos agentes sociais. Vai, nessa direção, a proposta de “motilidade” feita por Kaufmann, Bergman e Joye (2004). De acordo com os autores, motilidade pode ser concebida como a capacidade ou potência de entes sociais de se moverem, acessarem e se apropriarem do espaço social e geográfico (KAUFMANN et al, 2004:750). O acesso refere-se ao conjunto de mobilidades possíveis segundo lugar, tempo e outros constrangimentos contextuais, influenciados por redes distribuídas no território e restritas às opções e condições à disposição dos agentes. Já a competência inclui habilidades que podem se relacionar direta ou indiretamente com o acesso e a apropriação, enquanto a apropriação refere-se a como os agentes interpretam e agem sobre o acesso e as capacidades. Como a motilidade é intercambiável para outras formas (como econômica, cultural, simbólica, social, dentre outras), ela pode ser analisada como capital (KAUFMANN et al, 2004:752).
Outra forma de pensar nesse tipo de desigualdade é através das possibilidades de abertura, porosidade e invenção oferecidas pelas diferentes relações sociais, mais ou menos fincadas em um espaço específico. Apontando a deficiência de se pensar a história da modernidade de forma isomórfica (espaços/lugares e culturas/sociedades) ou, ao contrário, como uma corrente de fluxos “sem grilhões”, Doreen Massey (2007:152-153) sustenta que devemos entendê-la a partir de suas sobreposições de poder, incluindo tanto as relações locais “dentro do lugar” quanto as que vão além dele.
Frequentemente mobilizado por Urry no artigo em análise, a noção de “fluxo” (flow) é criticada por Knowles (2010). Para ela, o termo traz mal-entendidos ao não descrever adequadamente como acontece o movimento, negligenciando seu contexto e as relações constituídas pelos entes sociais (KNOWLES, 2010:374). Os entes sociais não “fluem”, mas planejam, viajam, superam obstáculos – ou, então, são constrangidos por eles –, caminham para outras direções e enfrentam contingências cotidianas.
Por esse motivo, Knowles (2010:374) propõe substituir a metáfora de “fluxo” por “viagens”, “jornadas” e “navegações”. A primeira corresponde às mobilidades rotineiras, o que leva a identificação de como viajam, para onde, quão longe, quais as circunstâncias, o que acontece enquanto viajam. Já as jornadas envolvem itinerários específicos, cíclicos e regulares, capazes de conectar lugares, sendo necessário capturar seus meios e propósitos (KNOWLES, 2010:375). Por fim, navegar destaca a habilidade social de planejar e executar jornadas, que sempre possuem contingência e improviso (KNOWLES, 2010:376). Os objetos também não fluem, mas são “feitos mover” por alguém em um dado lugar, o que requer prestar atenção aos mecanismos que fazem esse circuito móvel de corpos e materialidades operar (KNOWLES, 2010:377-378).
A sociologia tradicional a que Urry tece interlocuções preocupou-se com a mobilidade em seu sentido vertical, isto é, no âmbito da estratificação social, como Sorokin e outros representantes da sociologia estadunidense de meados do século XX (FREIRE-MEDEIROS; TELLES; ALLIS, 2018:3). Urry sugere pensar mobilidade, também, em sua dimensão horizontal, considerando as redes de interdependência por onde materialidades, corpos, ideias, dentre outros entes, circulam desigualmente - e aqui reside muito da contribuição da “virada espacial”, que deixou de enxergar o espaço como um dado a priori.
Construir uma sociologia de “marginalidade criativa”, cujo deslocamento para as fronteiras das disciplinas é lido como formador de hibridismos produtivos, deve ser o primeiro passo para a “teorização móvel” (URRY, 2013:62-63). As temporalidades e espacialidades que estão sendo constantemente redefinidas no avançar de uma sociedade midiatizada, só poderão ser capturadas pelos cientistas sociais se eles debaterem sob o mesmo estatuto a imagem e a paisagem; o virtual e o físico; o humano e o não-humano. Esse é o desafio, nada fácil, que John Urry nos lançou.
Referências Complementares
BAKER, Patrick. Chaos, order and sociological theory. Sociological Inquiry, 63 (1), p. 123-149, 1993;
BRAUDEL, Fernand. Mediterrâneo e o mundo mediterrânico, vol. 1. São Paulo: Martins Fontes, 1983;
BRUNN, Stanley; LEINBACH, Thomas. Collapsing Space and Time: Geographic Aspects of Communications and Information. Nova Iorque: Harper Collins, 1991;
FREIRE-MEDEIROS, Bianca. ‘In Memoriam’: John Urry (1946-2016). Plural, São Paulo, 23 (2), 138-141, 2016;
FREIRE-MEDEIROS, Bianca; LAGES, Mauricio. A virada das mobilidades: fluxos, fixos e fricções. Revista Crítica de Ciências Sociais, online, 123 (1), 2020;
FREIRE-MEDEIROS, Bianca; TELLES, Vera; ALLIS, Thiago. Por uma sociologia ‘on the move’. Tempo Social, São Paulo, 30 (2), 2018;
KAUFMANN, Vincent. Mobile social science: creating a dialogue among the sociologies. The British Journal of Sociology, 61 (s1), 2010;
KAUFMANN, Vincent; BERGMAN, Manfred; JOYE, Dominique. Motility: Mobility as capital. International Journal of Urban and Regional Research, 28 (4), 2004;
KNOWLES, Caroline. Mobile sociology. The British Journal of Sociology, 61(s1), 2010;
MASSEY, Doreen. Imaginando a globalização: geometrias de poder de tempo-espaço. Revista Discente Expressões Geográficas, 1 (3), 2007;
MOL, Annemarie; LAW, John. Regions, networks and fluids: anaemia and social topology. Social Studies of Science, 24 (1), 1994
A metrópole do capital de rede
Freire-Medeiros, B. (2024). A metrópole do capital de rede: mobilidades socioespaciais e iniquidades urbanas. Cadernos Metrópole, 26(60), 423–442. https://doi.org/10.1590/2236-9996.2024-6002
Bruno Vieira Borges
Historiador e Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo (PPGS-USP). Pesquisador associado ao Observatório do Lazer e do Esporte (OLÉ) e ao Mobilidades: Teorias, Temas e Métodos (MTTM). E-mail: brunovieiraborges@usp.br
Guilherme Olímpio Fagundes
Cientista Social e Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo (PPGS-USP). Pesquisador associado ao Centro de Inteligência Artificial (C4AI/USP) e Mobilidades: Teoria, Temas e Métodos (MTTM). E-mail: guilherme.olimpio@usp.br
Contextualização
Bianca Freire-Medeiros é professora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Possui graduação em Ciências Sociais (UERJ), com especialidade em Sociologia Urbana, mestrado em Sociologia (IUPERJ) e doutorado em História e Teoria da Arte e da Arquitetura (Binghamton University). Em ambas as pesquisas de pós-graduação versou sobre o imaginário e as representações do urbano carioca. Atualmente, coordena o grupo de pesquisa Mobilidades: Teorias, Temas e Métodos (MTTM), posicionando-se como uma das principais referências latino-americanas dos estudos de mobilidade.
Fruto de sua tese de livre-docência, defendida em 2022, o artigo “A metrópole do capital de rede” condensa reflexões teórico-metodológicas sobre a relação entre mobilidades socio espaciais e iniquidades urbanas. Publicado em 2024 no Cadernos Metrópole, periódico vinculado ao Observatório das Metrópoles em parceria com a PUC de São Paulo, este texto será alvo de nossa reflexão.
Argumento central
Freire-Medeiros (2024) tem por objetivo conciliar sob uma mesma lente analítica as questões a propósito das mobilidades urbanas e das desigualdades sociais. Resgatando Simmel, a autora diagnostica que é na experiência das grandes cidades, entendidas tanto como formações geo-histórias quanto como construtos intelectuais, que surgem relações mais viscerais em torno do controle, da condução e da cronometria dos fluxos. Por esse motivo, as definições de “cidade burguesa”,desde a matriz liberal até aquela oferecida pela crítica marxista, transparecem um cuidado especial às razões do movimento, seja ele visto como o direito universal de pessoas e capitais irem e virem ou, então, como o transmutador insigne das coisas em mercadoria (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 424).
Embora a reflexão sociológica sobre mobilidades nasça intimamente relacionada com a reflexão sobre a vida na metrópole, Freire-Medeiros avalia que uma certa tradição interessada nas estratificações socioeconômicas e geracionais acabou solidificando uma sinonímia direta entre “mobilidade social” e “mobilidade ocupacional”. Dessa forma, os estudos de “mobilidade” ficaram associados a interpretações verticalizadas e com baixa abertura para a repercussão das ambivalências que outras diferentes mobilidades salientam. Conforme a sugestão de Freire-Medeiros (2024, p. 424), devemos, por outro lado, introduzir nas análises um eixo horizontal referente às distâncias, que não nega as hierarquias de dinheiro e prestígio, mas as percebe situacionalmente espacializadas. Isso, também, ergue uma crítica frontal à literatura sobre transportes de abordagem tecnicista, que encerra os trajetos em fórmulas fixas e autorreferentes.
A complexidade dos sistemas híbridos, multicomposições entre humanos e não-humanos, não legitima velocidade e eficiência como os principais indicadores de desempenho em todas as ocasiões (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 436). Uma série de autores(as) estão, por exemplo, destacando a necessidade de encarar a dimensão de gênero como estruturante da experiência dos transportes. Ao trazer para o debate as categorias-chave de “cuidado” e “interdependência”, disserta Freire-Medeiros, já temos outro mapa de entendimento acerca da distribuição das práticas de mobilidade; um muito mais afeito ao duplo papel da mobilidade: ser produtora da experiência social e também questão-chave para pensar as ontologias do urbano e suas questões políticas (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 429).
Seguindo esse argumento, outra literatura que para a socióloga possui premissas a serem revistas é aquela que restringe o habitar a categorias espaciais fixas, negligenciando a vida que é feita on the move e o fato de que as mobilidades sistêmicas transcendem o escopo dos entornos mais imediatos da “vizinhança”. Por um lado, operar através desses termos é deixar de vislumbrar que identidades e outras construções de significado podem ser geridas e disputadas no movimento. Por outro, dificulta ao pesquisador o trabalho de posicionar-se nos “entremeios dascategorias”, lição que Freire-Medeiros recupera de Vera Telles (2011). Formal e informal, legal e ilegal, lícito e ilícito, nacional e estrangeiro – as desigualdades engendram-se nas sobreposições destas relações que são feitas em fluxos globais e locais, com peso e adesão distintos contextualmente (FREIRE-MEDEIROS, 2024, pp. 427-428). Em suma, aqui, o espaço não é dado de antemão.
A mobilidade é socialmente estruturada e culturalmente significativa. Há um conjunto de regras e normativas que orientam as práticas de pessoas e grupos situados espaço-temporalmente. Para capturar as estratégias e técnicas de movimento a serem conservadas, alteradas e questionadas, Freire-Medeiros consagra a expressão “gramática dos deslocamentos”. Simmel em seus textos pioneiros, já havia sido capaz de visualizar que a gramática de seu tempo – da emergência das grandes cidades – pressupunha uma outra subjetividade construída nas interações e relações sociais, uma enraizada no cálculo racional, na economia monetária e na alta quantidade de estímulos vivenciados (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 428). Essa gramática, cujos contornos não são exatamente os mesmos da Berlim de Simmel, Freire-Medeiros reformula para falar das copresenças, das interações mediadas por tecnologias e das disputas de vários agentes em torno do poder de definir quais são e serão as maneiras legítimas de se mover e, ademais, onde elas se dão e darão espaço-temporalmente.
Conforme a socióloga, é possível falar em uma “metrópole do capital de rede”, onde “as assimetrias de poder derivam do acesso diferencial aos meios de transporte e às estruturas de dados e comunicação, das capacidades desiguais de gerenciamento do ‘tempo negociado’ e de conhecimento da gramática dos deslocamentos, do nível de controle que se tem sobre as próprias rotas e as de terceiro” (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 426). A metrópole do capital de rede reúne vários tipos de mobilidade, das cotidianas às migrações transnacionais, que podem acontecer na escala da cidade, mas costumam extrapolá-la, sublinhando interdependências que precisam ser rastreadas pelo pesquisador. “Cidades globais” e “megacidades”, nesse sentido, não são como pináculos de um esquema vertical de importância. Ao contrário, são construtos de escala a serem testados, a par de outros, dentro de sistemas de mobilidade situacionalmente tecidos.
Os contornos da metrópole do capital de rede tornam-se mais claros quando nos debruçamos sobre dois de seus conceitos constitutivos: capital de rede e regime de mobilidade. O capital de rede corresponde a um conjunto de competências que geram e sustentam relações, trazendo benefícios econômicos, emocionais e simbólicos àqueles envolvidos, embora nunca de forma perfeitamente equânime. Essas competências consistem tanto na capacidade de acessar e conectar os “nós” dos espaços híbridos quanto nas habilitações adquiridas – passaporte, acesso a wi-fi, etc. – para tal empenho (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 431). Assim, possuir capital de rede permite também contornar desigualdades não-econômicas, embora economicamente mediadas.
Dentre outros ativos identificados pela literatura a propósito das mobilidades, a proposta de motilidade de Vincent Kaufmann é, segundo Freire-Medeiros, a mais consistente. Para o sociólogo suíço, motilidade diz respeito ao potencial de mobilidade de uma pessoa em relação àquilo que precisa existir para que ele se converta em realidade. (KAUFMANN, 2002, p. 431). A diferença entre capital de rede e motilidade, portanto, está no fato desta última remeter a uma capacidade decidida no domínio do indivíduo, enquanto que a primeira é sempre relacional, ou seja, constrói-se nas interações sociais, as quais podem ser organizadas pelos indivíduos, mas nunca dominadas completamente por um deles (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 432).
Há uma dimensão política por trás da desigualdade na distribuição e sustentação do capital de rede. O regime de mobilidade arbitra sobre o que pode se mover, quando pode se mover, para onde pode se mover, e de qual maneira esse movimento acontece (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 432). O caso emblemático trazido pela autora para ilustrar essa dinâmica típica da metrópole do capital de rede é o offshoring. Segundo John Urry (2007), o neoliberalismo, manifestação do estágio contemporâneo do capitalismo, opera cada vez mais por meio de rotas secretas. As empresas offshoring abrigam-se em outros espaços geográficos e políticos e escapam de regulações e regimes tributários graças às transformações tecnológicas e à reorganização do trabalho ocorridas no último quartil do século XX. O fenômeno social do offshoring, como princípio organizador do capitalismo financeiro global, é capaz de interferir no funcionamento do regime democrático, nas práticas de lazer e nas relações de trabalho. Quer dizer, as fronteiras anteriormentemencionadas do formal e informal, legal e ilegal, lícito e ilícito, nacional e estrangeiro tornaram-se mais porosas e parecem conectar os eventos que acontecem nas diferentes espacialidades, bem como reproduzir profundas assimetrias econômicas, políticas e simbólicas (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 434).
Apreciação crítica
Freire-Medeiros (2024) sistematiza uma agenda de pesquisa sobre iniquidades sociais e mobilidades, oferecendo aportes teórico-metodológicos para identificar e investigar circulações de várias entidades sociais, prestando atenção à maneira como elas se orientam por recortes raciais, generificados, etários, étnicos, capacitistas e classistas historicamente construídos (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 427). De acordo com a socióloga, a pesquisa social deve investir analiticamente acerca dos espaços híbridos, onde humanos, mais-que-humanos e não-humanos geram, entre si, permutas e composições muitas vezes inovadoras (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 427; TSING, 2021, p. 409).
O capital de rede e os regimes de mobilidade podem se tornar, nesse sentido, importantes operadores de pesquisa, se postos à prova empírica. É preciso enfatizar que uma boa investigação das mobilidades não se reduz ao relato de quem move e quem deixa de mover, mas se pauta em: (i) identificar os discursos, valores, estruturas, infraestruturas e classificações sociais que facilitam ou impedem deslocamentos desejados ou coercitivos (FREIRE-MEDEIROS, 2024, pp. 428, 432);(ii) destacar as redes de cuidado e interdependência que desvelam distribuições assimétricas a respeito das obrigações sociais (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 429); e (iii) demonstrar a mutualidade e a simultaneidade entre as diferentes mobilidades orquestradas na metrópole do capital de rede (FREIRE-MEDEIROS, 2024, p. 434).
Segundo Beth Baker (2016, p. 152), a noção de “regime” nas mobilidades envolve três componentes: (i) tecnologias de governança, (ii) economias morais e(iii) sistemas para auto-organização do comportamento. Baker (2016, p. 153) procura demonstrar que os regimes de mobilidade são esquemas racionais de regulação de movimento de pessoas, bens, capitais e formas de conhecimento que abarcam tecnologias discursivas e infraestruturais. Por sua vez, Sheller (2023, pp. 150-151) argumenta que infraestruturas são inerentemente desiguais na sua capacidade de conectar serviços, bens e pessoas, enfatizando, portanto, suasrelações de poder. Em Mobility Justice (2018), a socióloga estadunidense avalia que as desigualdades em torno das infraestruturas são fruto de regimes de mobilidades e economias morais próprias do colonialismo e do racismo.
Devemos, sugere Freire-Medeiros (2024, p. 426), considerar que as cidades são exatamente aquilo que emerge das múltiplas interseções entre infraestruturas, materialidades e signos, sendo importante salientar que nelas os regimes de mobilidade não se traduzem apenas em regimes legais e formais. Existem vários enquadramentos possíveis com lógicas mais ou menos específicas e que não necessariamente entram em conflito destrutivo. Feltran e Fromm (2020) dão um bom exemplo disso ao destacarem que, muitas vezes, a performance dos agentes é o fator determinante para mercados aparentemente antagônicos coexistirem, como no caso dos mercados de veículos roubados e de recuperação de veículos.
Viver na metrópole do capital de rede, que se abre a conexões menos restritas e óbvias, é estar constantemente equilibrando o investimento em laços fortes e laços fracos, uma vez que os primeiros, sozinhos, não satisfazem as demandas que surgem. Como salienta John Urry (2012, p. 25), os laços fracos proporcionam pontes diferentes daquelas que um “aglomerado densamente unido de amigos próximos e familiares” é capaz de oferecer; no entanto, por serem mais voláteis e potencialmente casuais, podem acabar fazendo com que os indivíduos se “dividam” com frequência no trabalho meticuloso de saber criar, circular e compartilhar conhecimento tácito. De modo geral, a acumulação dentro de redes faz quem você conhece ser mais significativo do que o que você conhece. O papel do celular, nesse cenário, é definidor, pois como expressa Freire-Medeiros (2024, p. 428), viabiliza à distância o gerenciamento das necessidades, aumentando brutalmente a capacidade de sustentar relações em diferentes regimes de mobilidade, princípio básico para a formação de capital de rede (URRY, 2007, p. 27).
As porosidades da metrópole do capital de rede podem ser, também, aproximadas da proposta epistemológica do descentramento antropológico de Michel Agier (2015). Para este autor, igualmente, é preciso superar os pressupostos culturais que afirmam as associações ditas fixas e duradouras no território como aquelas mais arraigadas de sentido. Ao considerar que tanto espaço quanto sujeito são processos nunca perfeitamente estáveis, mas sempre em (trans)formação,Guilhermo Aderaldo (2021, pp. 479-483) propõe uma aproximação teórica desses “saberes móveis” que convergem na quebra das binaridades e da tomada do movimento como simples encontro de dois interlocutores geográfica e cognitivamente alinhados. Como reforça Freire-Medeiros (2024, p. 428), falar em uma gramática dos deslocamentos depende, em especial, da consideração das associações positivas que emergem de encontros pontuais, os quais não são fruto de decisões individuais anteriormente arquitetadas.
Embora o texto de Freire-Medeiros (2024) seja construído em um nível de abstração mais alto, com baixa presença empírica, ele não deixa de ser inspirador para a construção de formas alternativas de adentrar o campo. A nosso ver, os avanços feitos pela socióloga nos conceitos de capital de rede e regime de mobilidades, bem como a visualização de uma metrópole do capital de rede, podem fortalecer os estudos que tematizam as trajetórias urbanas em suas espacializações e temporalidades corporificadas (JIRÓN & IMILÁN, 2018; TELLES, 2006), uma vez que, em consonância com a “virada das mobilidades”, Freire-Medeiros (2024) assume o movimento como forma de habitar. Trata-se, a partir disso, de considerar que a efetivação desse habitar está ancorada em um processo de “alfabetização” do que a autora chama por gramática dos deslocamentos, o que nos anima a verificar nas situações cotidianas como os diferentes arranjos sociais acarretam em diferentes formas de manejar, subjetivar e experienciar o movimento.
Referências complementares
AGIER, Michel. Antropologia da cidade: lugares, situações, movimentos. São Paulo: Terceiro Nome, 2011;
AGIER, Michel. Questões de método: repensar o deslocamento hoje. In: AGIER, Michel. Migrações, descentramento e cosmopolitismo: uma antropologia das fronteiras. Maceió/São Paulo: Edufal/Edunesp, 2015;
ADERALDO, Guilhermo. Periferias “móveis”: seguindo experiências de realizadores (áudio)visuais nas margens da metrópole. In: SOUZA, Candice Vidal; GUEDES, André Dumans (orgs.). Antropologia das mobilidades. Brasília, ABA Produções, 2021;
BAKER, Beth. Regimes. In: SALAZAR, Noel; JAYARAM, Kiran (org.). Keywords of Mobility: Critical Engagements. Nova Iorque: Berghahn Books, 2016;
FASSIN, Didier. Compaixão e Repressão: A economia moral das políticas de imigração na França. Ponto Urbe, 15(1), 2014;
FELTRAN, Gabriel; FROMM, Déborah. Ladrões e caçadores: sobre um carro roubado em São Paulo. Antropolítica, Revista Contemporânea de Antropologia, 1(50), 2020;
JIRÓN, Paola; IMILÁN, Walter. Moviendo los estudios urbanos. La movilidad como objeto de estudio o como enfoque para comprender la ciudad contemporánea. Quid, 16(10): 17-36, 2018;
SHELLER, Mimi. Reparações infraestruturais: reconcebendo a justiça restaurativa no Haiti e em Porto Rico. Revista Brasileira de Sociologia, 11(28): 148–178, 2023;
SHELLER, Mimi. Mobility Justice: The Politics of Movement in An Age of Extremes. Londres: Verso, 2018;
TELLES, Vera da Silva. Trajetórias urbanas: fios de uma descrição da cidade. In: TELLES, Vera da Silva. & CABANES, Robert. Nas tramas da cidade: trajetórias urbanas e seus territórios. São Paulo: Humanitas, 2006;
TSING, Anna; BRITO, Luiz Gonçalves. Futuros possíveis dos mundos sociais mais que humanos: entrevista com Anna Tsing. Horizonte antropológico, 27(60): 405-417, 2021;
URRY, John. Mobilities. Cambridge: Polity Press, 2007;
URRY, John. Social networks, mobile lives and social inequalities. Journal of Transport Geography, 21(1): 24–30, 2012.
Bodily Moves and Racial Justice
SHELLER, M. (2018b) Bodily Moves and Racial Justice. In Mobility Justice. The Politics of Movement in an Age of Extremes. London: Verso.
Juliana Alcantara
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo (USP). E-mail: julianaalcantara@usp.br
Marianna de Brito Tranin de Magalhães
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Turismo da Universidade de São Paulo (USP). E-mail: mariannatranin@usp.br
Michele Aparecida de Souza Gomes Dias
Bacharela em Sociologia pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). E-mail: mimichele21@gmail.com
Mimi Sheller é uma acadêmica com formação interdisciplinar. Graduou-se em História e Literatura, em Harvard, e na pós-graduação cursou o programa Estudos Históricos na New School for Social Research, que marcou sua aproximação com o campo da Sociologia. É reitora da Global School at Worcester Polytechnic Institute em Massachusetts, EUA. Sheller publicou mais de uma centena de artigos e capítulos de livros e é autora ou coautora de quinze livros1. Sua extensa produção, somada aos seus esforços na fundação de centros de estudos, como o CeMoRe2, e revistas, como a Mobilities3, ambos co-fundados em parceria com John Urry - e sua participação ativa em conselhos internacionais, indicam uma trajetória comprometida em disseminar e consolidar o Paradigma das Novas Mobilidades.
Mobility Justice (2018), editado pela Verso, - ainda sem tradução no Brasil - foi publicado dois anos após a repentina morte de John Urry. A autora dedica o livro ao distinguished professor da Universidade de Lancaster, com quem nutria intensa interlocução. O livro é organizado em seis capítulos, que convergem para a elucidação das crises contemporâneas do movimento. O mote teórico, que costura os capítulos, é informado pela relação entre poder e desigualdade, governança e controle do movimento.
Sob a perspectiva de uma crescente preocupação com as mudanças climáticas e sob a repercussão de eventos de (i)mobilidade historicamente marcados por gênero, raça, sexualidade, classe, etc, Sheller conecta as escalas macro, meso e micro dos movimentos para refletir sobre o que chamou de mobility justice.
Tema caro à sua agenda, em específico, e ao Paradigma das Novas Mobilidades, em geral, as crises relacionadas com a forma como nos movemos no mundo, inspirou a autora a teorizar a justiça, “mais especificamente em relação aos conceitos de justiça distributiva, justiça deliberativa, justiça processual, justiça restaurativa e justiça epistémica” (Sheller, 2018a, pp. 22 - tradução nossa).
No argumento central do capítulo 2, objeto desta resenha, a autora elucida que o problema da injustiça na mobilidade começa com os nossos corpos. É na escala do corpo que percebemos com mais clareza as restrições e as ampliações à mobilidade relacionadas aos marcadores sociais da diferença. Sendo a mobilidade, um recurso diferencialmente distribuído (Cresswell, 2009), o movimento não é consequência, ele está envolvido na própria causalidade. Mimi Sheller, ao indicar que fatores sociais não simplesmente moldam nossas capacidades de movimento, mas, que são tais capacidades que moldam nossas experiências corporais, está corroborando que os movimentos corporais moldam e são moldados por ambientes, infraestruturas e pela combinação de capacidades que permitem ou impedem o movimento.
Para a autora, nossos corpos são diferentemente capacitados ou prejudicados para serem móveis. Isto porque o corpo está envolvido em uma coreografia complexa entre mobilidades relacionais. Nesta dança, as diferenças incorporadas interagem com os regimes de mobilidade que reproduzem mobilidades desiguais. É sob esta compreensão que o movimento de um “homem de negócios” é corporalmente diferenciado do movimento de um “homem refugiado”. São as capacidades diferenciadas de movimento de cada um que formam suas subjetividades móveis. Para cada subjetividade há correspondência em um vasto sistema de contra-movimentos subversivos, para os quais Sheller dedica parte do capítulo.
A autora investe, especialmente, neste capítulo, a explicar como os movimentos corporais sob regimes de gênero, sexuais, capacitistas e racializados são centrais na discussão sobre justiça. Ao ancorar a observação desde a escala do corpo, a autora notou que há pouca análise racial sobre mobilidades diferenciadas e desiguais, por exemplo. É nesta lacuna que repousa sua crítica à genealogia do Paradigma das Novas Mobilidades. Sheller relata que no momento das construções e estruturações teóricas foram desconsideradas questões da filosofia feminista, teoria crítica negra e teoria pós-colonial. Os indivíduos, tratados nessas teorias não receberam a atenção merecida com relação à imobilidade e à proporção global que esses atores ocupam nos cenários social, político e econômico.
Está implícito neste capítulo a formulação, difundida pelo Paradigma das Novas Mobilidades, de que a mobilidade e a imobilidade não podem ser vistas simplesmente em termos dicotômicos, uma vez que estão emaranhadas em uma relação de co-produção. Alinhada com o PNM, que procura compreender como se constrói e como se estrutura essa relação, Sheller aposta na ideia de mobilidades desiguais e diferenciadas, a partir da escala do corpo. O homem branco, masculino e privilegiado que se movimenta, se alicerça na imobilidade de uma mulher, branca ou não, seja ela mãe, que o carrega na barriga e lhe dá todo o suporte enquanto está sob sua responsabilidade ou de uma esposa que prepara todo um lar para que esse sujeito possa se sentir acolhido e resguardado. A autora evoca Beverley Skeggs para afirmar que “os discursos sobre a mobilidade global, de forma mais geral, podem ser ligados a uma “subjetividade masculina burguesa” que se descreve como cosmopolita: A mobilidade e o controle sobre a mobilidade refletem e reforçam o poder”. (Sheller, 2018, p. 81 – tradução nossa).
Com relação a discussão da (i)mobilidade da mulher, Sheller aponta que pode-se observar o regime de controle sobre seus corpos: nos diversos tipos de estruturas culturais, modelos de sociedade há sempre um controle sobre a mobilidade do corpo da mulher, seja na designação das tarefas domésticas, na administração do lar e na criação e educação dos filhos, ou seja em outras culturas, as quais limitam a capacidade das mulheres de viajarem ou se deslocarem.
A autora também elucida que pouco se sabe sobre como é se deslocar, usando uma cadeira de rodas. O ambiente arquitetônico de uma cidade oprime, restringe e discrimina pessoas com deficiência; impede e/ou reduz o movimento e a mobilidade de uma pessoa cadeirante, por exemplo. Ao nos voltarmos para as mobilidades ou (i)mobilidades das pessoas que possuem alguma restrição corporal, percebemos a partir do argumento de Sheller, o quanto a cidade capitalista estrutura toda a sua arquitetura de mobilidade e movimento pensando em pessoas que não possuem alguma deficiência corporal, seja permanente ou provisória. Se pensarmos também em mães que tentam se mover pela cidade com seus bebês em carrinhos, percebemos o quanto isso é quase impossível, por causa das calçadas que não foram pensadas em pessoas que se movem sobre rodas. As únicas vias que são pensadas para se mover sobre rodas, são as que circulam os carros e somente esses podem circular de maneira fluída nesses espaços.
Outro argumento importante a ser destacado diz respeito à teoria crítica negra, a qual explana a mobilidade e a imobilidade dos povos africanos que foram trazidos como escravizados para as Américas. Durante o período colonial milhares de africanos foram violentamente retirados de seus países, de suas casas, de seu âmbito familiar e trazidos para trabalharem de forma forçada e moverem seus corpos de forma involuntária. Essa mobilidade produziu imobilidade, pois essas pessoas foram acorrentadas, trancadas e/ou aprisionadas.
Esse modelo de mobilidade para imobilidade estruturou e moldou o sistema mundial capitalista.
Os argumentos apresentados por Mimi Sheller neste segundo capítulo de Mobility Justice, nos permitem pensar e compreender a mobilidade de uma forma não-sedentária ao colocar os corpos e como eles se movem no espaço como tema central. Trazendo para a escala da cidade, é imprescindível pensar que os diferentes corpos - principalmente os de mulheres, de pessoas negras e de pessoas com deficiência -, se moverão diferentemente e em ritmos particulares, podendo se expressar de maneiras diversas. Pensar como esses corpos se movem e como são atravessados pelas infraestruturas do movimento, utilizando as lentes móveis, nos ajuda a avançar em relação à ausência de conscientização e análise de gênero em grande parte dos discursos políticos sobre transporte, mobilidade e questões de justiça na mobilidade.
Sheller nos convida a pensar sobre restrições e ao direito à cidade, principalmente voltado à planejamento, design, investimento em infraestrutura pública, políticas de transporte e agências de trânsito urbano, ao evidenciar que as mesmas são construídas e dominadas por especialistas e técnicos homens, brancos, sem deficiências e de classe média. Por conseguinte, “frequentemente ignoram as perspectivas, experiências e necessidades das mulheres, crianças, pessoas com deficiência e pessoas pobres, ou as consideram irrelevantes para o setor” (Sheller, 2018b, p. 74 - tradução nossa).
A autora também pontua que “o investimento em infraestrutura pública e o planejamento de transporte podem ser transformados em um local de batalha política sobre outras restrições mais sutis ao direito à cidade” (p. 87 - tradução nossa). Para ilustrar esse argumento, descreve o protesto “wheel ins”, onde os ativistas com deficiência se reuniram nas plataformas de estações de metrô inacessíveis e, ao bloquear o acesso de outras pessoas, incorporam a forma como estão literalmente presos ali.
A produção de atrasos inesperados, multidões mistas, públicos intersticiais e temporalidades recém-pontuadas pode alavancar mobilidades irregulares para uma política de capacitação dos marginalizados. Essas paradas e contra-movimentos também podem promover um tipo de justiça epistêmica ao mudar os locais de produção de conhecimento e ação política (Sheller, 2018b, p. 87 - tradução nossa).
atrasos inesperados
ou
não podia ter escolhido outro horário?
Em julho de 2022, às 8h da manhã, desembarquei na rodoviária do Tietê. Me sentia confiante por conseguir chegar até a bilheteria sem usar as placas, somente me guiando pelo movimento mútuo das pessoas. Para mim, caminhar rápido, subir a escada rolante pela esquerda e me equilibrar dentro do vagão significava que eu tinha incorporado uma ordem ou um regime. Naquele dia, no entanto, havia uma grande aglomeração de pessoas antes e depois da catraca. Até aquele trecho do deslocamento, por dentro do terminal rodoviário, a plataforma era um destino comum, um espaço comum móvel - ou um espaço com potencial móvel. Levou alguns minutos para que eu entendesse porque o movimento tinha sido interrompido ali, no seu momento mais impulsivo. Conforme mais pessoas chegavam, menos espaço restava entre o meu corpo e os corpos ao meu redor. Era praticamente impossível ignorarar as mensagens nos celulares alheios. Vídeos e imagens estavam sendo compartilhados e até transmitidos “ao vivo” pelas plataformas digitais, como provas materiais do atraso, do bloqueio, do impedimento. Apesar de não enviar nenhum registro do que aconteceu, eu recebi duas fotos de um amigo que estava a duas estações de distância. As imagens revelavam o cruzamento entre a rua Leite de Morais e a Avenida Cruzeiro do Sul, e os vagões do metrô parados sob o trilho. Os registros vieram acompanhados da seguinte mensagem: “metrô tá parado, um cara se jogou”. Enquanto eu absorvia a informação, fui me dando conta das questões que essa cena levantava. Eu estava em São Paulo, popularmente conhecida por ser a “cidade que nunca para”, experienciando o rompimento de uma iteração. O suicidio de uma pessoa paralisou a linha azul por mais de 40 minutos no período de maior circulação, e o que mais se ouvia era “não podia ter escolhido outro horário?”.
Nos termos de Sheller (2018b) a mobilidade é um elemento hierárquico que constrói e evidencia tipos ideais de indivíduos ou subjetividades móveis, pois é um recurso com o qual nem todos têm uma relação igual. Reforçamos, assim, a ideia de que mobilidade - livre ou restrita - fazem parte, refletem e reforçam o poder e o regime de poder. Desta forma, as distinções e desigualdades de gênero constituem um dos principais conjuntos de normas e instituições que diferenciam e aplicam de forma desigual a mobilidade corporal, influenciando processos carregados de poder social, cultural, econômico, político e geográfico. Seguindo Sheela Subramanian, Sheller pontua que“existe uma “ligação profunda entre ‘raça’, gênero e movimento no espaço”, e as mobilidades de gênero são sempre também racializadas” (2018b, p. 81 - tradução nossa).
women are fixed, men are mobile
ou
how we move might move how the world is made
Após me tornar mãe, percebi nitidamente o quanto a mobilidade da mulher fica reduzida com relação a criação dos filhos, principalmente em seus primeiros anos de vida. Os filhos, enquanto bebês, urgem ficar perto da mãe, querem o colo, querem ser amamentados, querem aconchego e só descansam em plena paz quando sentem o cheiro ou o contato da mãe. Isso dificulta a realização do trabalho capitalizado, e de projetos acadêmicos. E mesmo contando com uma rede de apoio bem estruturada, a vida, a mobilidade da mulher que é mãe, fica restringida aos passos e anseios do bebê. Atividades que antes eram simples de serem realizadas, como tomar banho, se alimentar, ir ao banheiro, escovar os dentes, ir ao mercado, pegar encomendas na portaria do prédio, entre outras, ficam restritas ou reduzidas quando a mãe está sozinha (ela e o bebê) e não há mais ninguém para servir de apoio. Enquanto isso, o pai da criança, - no caso, meu marido -, consegue realizar suas tarefas profissionais e seus estudos de forma fluída, sem tanta preocupação com o bebê e com a administração da residência. O trabalho realizado pela mulher com relação a administração do lar e cuidados com os filhos é enxergado como uma obrigação da progenitora e é desvalorizado em termos de remuneração e valorização como a própria autora enfatiza: “As mulheres, muitas vezes, são definidas como desprovidas de uma “subjetividade móvel”, ficam enraizadas no lugar e no lar, enquanto as narrativas de transformação masculina muitas vezes dependem de viagens, de estar na estrada e de fugir de casa” (p. 80 – tradução nossa).Por fim, o Mobility Justice de Mimi Sheller nos permite pensar mais nitidamente de forma não-sedentária, ao desnudar realidades e dimensões de corporeidade que vão além da raça e do gênero, impedindo que nossas pesquisas atuais e futuras não sejam baseadas também nestas dimensões, estimulando-nos a refletir sobre questões de justiça, poder e desigualdade de forma micro, meso e multiescalar, além de nos inspirar também sobre as nossas próprias experiências cotidianas e como nos movemos pelo espaço.
Referências
CRESSWEL, T. (2009) Seis Temas na Produção das Mobilidades. In Carmo, Renato M. & Simões, J. A. (orgs.). A Produção das Mobilidades. Redes, Espacialidades, Trajetos. Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
SHELLER, M. (2018a) Theorising mobility justice. Tempo Social, v. 30, n. 2, pp. 17-34.
___________. (2018b) Bodily Moves and Racial 4Justice. In Mobility Justice. The Politics of Movement in an Age of Extremes. London: Verso.
1 Para mais sobre sua produção, ver: https://scholar.google.com/citations?user=BOJTCFoAAAAJ&hl=en
Placing regimes of mobilities beyond state-centred perspectives and international mobility: the case of marketplaces
Dahinden, J., Jónsson, G., Menet, J., Schapendonk, J., & van Eck, E. (2023). Placing regimes of mobilities beyond state-centred perspectives and international mobility: the case of marketplaces. Mobilities, 18(4), 635–650. https://doi.org/10.1080/17450101.2023.2218591
Luma Mundin Costa
Mestranda do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP). E-mail: lumamundin@usp.br
Gabriela da Silva Figueiredo Rocha
Mestranda do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP). E-mail: gabrielasfr@hotmail.com; gabi.dsfr@gmail.com
O artigo Placing regimes of mobilities beyond state-centred perspectives and international mobility: the case of marketplaces compõe o volume 18 da Mobilities, revista fundada por John Urry, Mimi Sheller e Kevin Hannam em 2006. O periódico dá continuidade ao legado de Urry e de sua contribuição para o New Mobilities Paradigm e para o campo das ciências sociais, com escopo que privilegia artigos com reflexões sobre a “virada das mobilidades” e que tenham essa perspectiva como lente analítica, independente da filiação disciplinar dos(as) autores(as), como é ilustrado pelos autores do artigo, que atuam em diferentes campos disciplinares: Dahiden, Jónsson e Menet são antropólogas com pesquisas sobre migração e transnacionalismo, enquanto Schapendonk e Van Eck tem sua trajetória na geografia, com pesquisas sobre migração e espaço público, respectivamente. Apesar das distintas trajetórias nos campos de conhecimento, todos os autores privilegiam em suas pesquisas uma abordagem e discussão metodológica sob a lente das mobilidades.
O artigo em questão integra o dossiê editado por Anna Wyss, Tania Zittoun, Oliver Clifford Pedersen, Janine Dahinden e Emmanuel Charmillot, que tinha a proposta de trazer em um único número pesquisadores das mobilidades e pesquisadores das migrações, para demonstrar o potencial de colocar o lugar como “ponto de entrada” para desenvolvimento da pesquisa e como as lentes das mobilidades contribuem para subverter abordagens nacionalistas ou etnocêntricas, críticas feitas a muitas das pesquisas sobre imigração.[1]
Como “ponto de entrada”, os autores do texto Placing regimes of mobilities beyond state-centred perspectives and international mobility: the case of marketplaces utilizam dois diferentes mercados de rua de cada um destes três países da Europa: Reino Unido, Suíça e Países Baixos. Partindo de diferentes lugares, os autores se valem das lentes das mobilidades para observar não apenas os fluxos mais evidentes nos mercados, bem como contribuem para o debate metodológico ao enfatizarem a necessidade de superação de paradigmas “nacionalistas” e “sedentários” nas pesquisas. Tomando especificamente a noção de regime de mobilidades, o principal argumento que os autores buscam desenvolver é que “[...] associar o conceito de regimes de mobilidades ao estudo de lugares pode ajudar a esclarecer como a ordenação e a diferenciação de diversas formas de mobilidades se manifestam nas realidades cotidianas de determinados lugares” (Dahinden et al., 2023, p. 635, tradução livre).
Para desenvolver a articulação entre lugar e regimes de mobilidades, os autores trabalham com a perspectiva já consagrada da geógrafa feminista Doreen Massey, em que a identidade de um lugar deriva da especificidade das suas interações com o “externo”. Nessa perspectiva, ao invés de serem lidos como opostos, mobilidade e lugar se co-constituem. Ao mobilizarem o conceito de regimes de mobilidades, os autores trabalham com uma definição ampla a partir da leitura que fazem da obra de Peter Adey, considerando que esse conceito abarca “[...] todos os tipos de mecanismos que (i)legitimam e diferenciam as mobilidades, e que ordenam as mobilidades em hierarquias” (Dahinden et al., 2023, p. 638, tradução livre). O texto ainda destaca que a aplicação mais comum do conceito o associa à governança supranacional e nacional, suas leis e políticas, dando destaque às fronteiras e migrações. No entanto, os autores destacam que o uso empregado no estudo considera não só essa forma institucional, mas também outros atores extra-estatais que constantemente negociam sobre e formulam esses regimes. Essas definições são base para o objetivo do artigo que consiste em localizar o conceito de regimes de mobilidade e relacioná-lo às práticas cotidianas que regulam as mobilidades em mercados de rua na Europa.
Como mencionado, seis mercados de rua do Reino Unido, Suíça e Países Baixos compõem as unidades de análise que os autores utilizam como “lugares de entrada” para localizar o conceito de regimes de mobilidades. Esses mercados são lidos para além da ideia de fixidez e demarcação clara no tempo e no espaço, ao contrário, a leitura se faz através das suas “[...] redes sociais locais, translocais e transnacionais, das relações espaciais, das trajetórias e das mobilidades dentro e fora dos mercados, que “entram” e “saem” dos mercados e os co-constituem” (Dahinden et al., 2023, p. 636, tradução livre). O artigo, assim, explora as mobilidades inerentes de mercados que ocorrem com frequências diferentes e em variadas concentrações urbanas, por meio de etnografias móveis, entrevistas em profundidade e semi-estruturadas, e trabalho arquivístico.
Em suas análises, Dahinden, Jónsson, Menet, Schapendonk e Van Eck identificaram nos mercados de rua um cenário em que se entrecruzam diferentes regimes de mobilidades. São citados quatro, dois que contextualizam o acesso por parte dos comerciantes aos mercados e dois que mediam a dinâmica própria dos mercados. Esses regimes se revelaram na análise dos dados quando os autores reconheceram as origens históricas dos mercados de rua na Europa, em que noções nacionalistas e sedentárias moldaram a maneira pela qual mercados foram geridos e regulados. O primeiro regime descrito pelos autores é o national license regime que se refere às regulamentações de licenças concedidas para comerciantes. Baseadas em ideais nacionalistas de cidadania, a partir de certas particularidades, a licença determina quem pode acessar o mercado como comerciante e se restringe normalmente aos cidadãos europeus.
Este regime está entrelaçado ao que é nomeado pelos autores como neoliberal regime, que se refere às políticas de revitalização da cidade e sua ligação às representações racializadas e migratórias (Dahinden et al., 2023, p. 642). Tal agenda neoliberal de “modernização” e revitalização coloca esses mercados como empecilhos para os programas e, portanto, produz um acesso desigual a partir dessas políticas. Conforme ilustra o exemplo de Amsterdam, com sua política implementada em 2018 para “fomentar inovação e empreendedorismo a fim de garantir que moradores da cidade tivessem acesso a uma variedade de insumos dos mercados e feiras”, pode-se compreender como o resultado dessa renovação traz instabilidade como consequência aos imigrantes que atuam nesses mercados, já que seus locais de atuação, em geral situados em bairros classificados como “étnicos”, são considerados insuficientemente adaptados para os consumidores e para a concorrência com redes de varejo. Há, portanto, uma restrição no âmbito de movimento e acesso desses imigrantes a outros mercados. A produção de desigualdades, afetando principalmente imigrantes e pessoas racializadas, é intrínseca a essa agenda neoliberal desse regime.
O terceiro e quarto regimes descritos, que integram as dinâmicas próprias do mercado, com ênfase na localização e alocação, são entrelaçados e são chamados de market regime e transport and infraestructure regimes. O market regime diz respeito à alocação de cada um dos vendedores em cada uma das barracas, que por sua vez estão alocadas em pontos no mercado que são considerados melhores não apenas pela maior clientela, mas por estarem próximos a banheiros e estacionamentos ou estarem expostos às mudanças do tempo, por exemplo. Há uma competição não apenas pelo melhor lugar dentro do mercado, mas também em conseguir se fixar nesse lugar e fidelizar os clientes. A posição dentro do mercado pode definir o sucesso daquele vendedor.
A decisão de onde se alocar não cabe aos vendedores, mas aos gerentes e inspetores que operam a partir desse regime de mobilidades, que também possuem poder de revogar licenças daqueles vendedores considerados como indesejados. Nessa dinâmica, aqueles que estão atuando no mercado há mais tempo são privilegiados e por vezes podem escolher em que lugar do mercado irão se fixar, um “princípio da senioridade”, havendo uma predileção da “fixidez” e “imobilidade” dos vendedores mais antigos em detrimento aos vendedores “casuais”, que seriam qualificados como “mais móveis”, e portanto, alocados nas piores partes dos mercados. A reprodução de hierarquias e desigualdades reforça um ciclo de desistência desses vendedores casuais ou novatos, e reforça que aqueles com melhores lugares, que são bem-sucedidos e mais regulares, continuem fixos nas melhores barracas e tenham mais clientes.
No âmbito dos transportes e infraestruturas, esses regimes de mobilidades dizem respeito aos fluxos de consumidores até às feiras e mercados, que também se entrelaçam com o regime do mercado, já que os consumidores tendem a se concentrar nas partes do mercado que estão mais próximas das infraestruturas de transporte público. O transporte e as infraestruturas impactam o modo com que os consumidores circulam nestes mercados e quais posições são consideradas as melhores.
Os regimes de mobilidades descritos descortinam aspectos sobre hierarquias e produção de desigualdade que possibilitam uma compreensão das dinâmicas dos diferentes mercados observados pelos pesquisadores. Essa abordagem a partir do lugar possibilita uma análise que não se limita a observar apenas o que seriam dinâmicas tidas como “locais”, e se alinha às reflexões suscitadas por Massey. Ao operacionalizar o conceito de regimes de mobilidades, os autores dialogam com a geógrafa e ratificam a importância da superação de uma abordagem do objeto que coloca em oposição o “local” e o “global”, e da caracterização de cada uma dessas escalas como “boa” e “ruim” respectivamente. Massey[2] enfatiza a importância de compreensão da relação entre local e global, e como compreender o local não se resume a descrever as dinâmicas que ocorrem naquele espaço delimitado, mas sim captar como o local também se constitui a partir de dinâmicas globais e vice-e-versa.
A partir da noção relacional de lugar, as conclusões que o artigo explora nos mostram (1) como lugares são bons recursos analíticos para identificação de hierarquias e desigualdades entre mobilidades, uma vez que lugares são compostos por fluxos e por relações com outros locais, e (2) que a partir da localização dessas mobilidades diferenciadas é possível enxergar os regimes de mobilidades, para além da regulação Estatal e das políticas institucionalizadas, que se entrecruzam e definem realidades cotidianas específicas. Os diferentes regimes de mobilidade observados nos seis mercados também ilustram o argumento de Massey[3] que indicam que, ao abordar as relações entre sociedade e o espaço, no contexto da globalização, é necessário que se investigue como são as relações estabelecidas no espaço e como o poder está imbuído nelas. Os autores conseguem explicitar que, como Peter Adey[4] advoga, as mobilidades são interdependentes, fundamentais para interação social e produzem desigualdades e diferentes oportunidades.
Ao localizar os regimes de mobilidades, os autores enfatizam esse aspecto do poder, das hierarquias e das desigualdades. A proposta do artigo, então, conversa com a abordagem discursiva sobre os regimes de (i)mobilidades, nos termos colocados por Beth Backer[5], uma vez que busca se distanciar de uma perspectiva centrada no Estado e “[...] localizar o poder em um campo mais diversificado e difuso de interação social, e não apenas em instituições formais de governança” (Backer, 2016, p. 159). O artigo, além de contribuir para a análise dos mercados de rua a partir das lentes das mobilidades, ilustra uma maneira operacionalizar o conceito de regime de mobilidades de forma a contemplar as diversas tecnologias, infraestruturas e significações que formam um regime: por meio da análise de práticas localizadas. Ainda que com a limitação de focar apenas na mobilidade humana, especificamente dos comerciantes nos mercados de rua, o texto provoca importantes reflexões para análise de outros tipos de mobilidades e quais regimes definem a sua legitimidade ou ilegitimidade.
[1] Wyss, Anna; Zittoun, Tania; Pedersen, Oliver Clifford; Dahinden, Janine; Charmillot, Emmanuel. Places and mobilities: studying human movements using place as an entry point. Mobilities, [S.L.], v. 18, n. 4, p. 567-581, 4 jul. 2023.
[2] Massey, Doreen. The Responsibilities of Place. Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit, [S.L.], v. 19, n. 2, p. 97-101, maio 2004.
[3] Massey, Doreen. Imaginando a Globalização: geometrias de poder de tempo-espaço. Revista Discente Expressões Geográficas, Florianópolis, n. 3, p. 142-155, maio 2007.
[4] Adey, Peter. Mobility. Second edition ed. London New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.
[5] Backer, Beth. Regimes. In: Salazar, Noel; Jayaram, Kiran (org.). Keywords of Mobility: Critical Engagements. Nova Iorque: Berghahn Books, 2016.
Periferias “móveis”: seguindo experiências de realizadores (áudio)visuais nas margens da metrópole.
ADERALDO, Guilhermo. Periferias “móveis”: seguindo experiências de realizadores (áudio)visuais nas margens da metrópole. In: VIDAL E SOUZA, Candice; GUEDES, André. (org.). Antropologia das Mobilidades. Brasília: ABA Publicações, 2021. p. 459-486.
Diego dos Santos Moura Gonçalves
Mestrando do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP). E-mail: humano.pii@usp.br
Guilhermo André Aderaldo é pesquisador e professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia na Universidade Federal de Pelotas-RS (PPGANT/UFPel). Doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, onde também obteve o pós-doutorado. Realizou estágios em Paris e Buenos Aires. Seus estudos se concentram em temas como antropologia urbana e antropologia das mobilidades e participa, dentre outros grupos de pesquisa, do MTTM, da USP[1].
O artigo integra o livro Antropologia das Mobilidades, organizado por Candice V. e Souza e André D. Guedes, publicado em 2021, pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA). A partir de relatos etnográficos de periferias urbanas, quilombos, terras indígenas, dentre outros referenciais, são postos em circulação estudos preocupados com os modos de fazer caminho, escapar das imobilizações, estabelecer vias e vínculos e criar lugares[2].
O artigo de Aderaldo (2021) apresenta os esforços de sujeitos periféricos, por meio da produção audiovisual, em problematizar noções estereotipadas de “periferia”, definidas e geridas externamente. Longe de ser uma categoria topológica dada e passiva, que designa territórios em oposição binária aos centros urbanos, a periferia emerge como o fio condutor dos esforços intelectuais e intervenções coletivas por parte dos interlocutores do autor. Em suas produções, esses sujeitos empregam tecnologias digitais como ferramentas intelectuais “para a construção de novas referências identitárias, espaciais e cognitivas” (ibidem, p. 463). Trata-se de mapeamentos contra hegemônicos, cuja colaboração é fazer ver uma periferia definida de modo relacional, por entrecruzamentos, percebida em suas relações com o restante da cidade e os discursos que a abordam. Por exemplo, a falta de conexões diretas entre periferias seria um bom parâmetro de classificação destas como tal, em contraposição às regiões centrais, melhor conectadas – ao tentar sair, é que melhor se experiência a condição de estar dentro. Além disso, residir em um espaço enquadrado por agentes externos dentro de definições estanques, fixas e redutoras resulta em impasses significativos, como o discurso da “responsabilidade social” que ampara pessoas em situação de vulnerabilidade social aos custos da manutenção de relações de dependência. Nessa antropologia reflexiva, portanto, as ferramentas intelectuais da produção audiovisual e da pesquisa etnográfica fazem encontrar interlocutores e pesquisador na produção ativa de teorias, com as quais ambas as partes se posicionam intelectual e politicamente nos impasses que atravessam seus caminhos.
A principal estratégia analítica adotada por Aderaldo consistiu em tomar a formulação nativa a respeito da periferia, elaborada pelos sujeitos de sua pesquisa, como um insight etnográfico para reorganizar os dados de sua investigação. Os dados, assim, deixam de ser lidos de modo fragmentado para ganhar um tratamento atualizado, nem nativo e nem prévio à pesquisa, e sim um esquema mais geral para a formulação nativa contextual e mais concreto que a teoria inicial do pesquisador. De modo conjunto, o espaço é pensado e o pensamento é situado. Além disso, tais formulações nativas são, de modo muito interessante, elaboradas com o uso de dispositivos digitais para o mapeamento de processos sociais.
Em minha pesquisa, investigo o uso de tecnologias de telemetria e videomonitoramento, no transporte rodoviário de cargas com caminhões, que pode ser descrito como um meio de mapear digitalmente processos sociais atrelados à rotina de trabalho dos caminhoneiros. A saber, são dispositivos para capturar informações provenientes de veículos, condutores e estradas – como localização, velocidade e condições de trânsito –, a fim de visualizar, interpretar e intervir remotamente no ambiente de trabalho móvel do caminhão (Boodlal & Chiang, 2014; Levy, 2015; Berri, 2019; Abrahão, 2022). Dentre as principais preocupações logísticas endereçadas figuram o consumo de combustível, a manutenção dos veículos e o risco de acidentes e roubos (Scaramella, 2004; Fontgaland, 2018; CNT, 2019; 2022). Nesses termos, a pesquisa se propõe a fazer uma caracterização aprofundada da rotina desses trabalhadores, com o objetivo de compreender em que grau as adversidades e contingências enfrentadas ou esperadas se convertem na demanda por soluções do gênero, a fim de minimizar problemas na segurança, previsibilidade e rentabilidade das atividades do setor.
Para aproximar ambos os objetos, produtores audiovisuais e transportadores de carga, a fim de extrair pontos de contato inspiradores, um primeiro movimento é considerar que, da mesma forma que os interlocutores de Aderaldo eram categorizados a partir do lugar que ocupavam, a periferia, os caminhoneiros ou estradeiros são socialmente percebidos segundo seus respectivos locais, o veículo e a estrada. Diferente dos motoristas que circulam no interior das cidades, o transporte de longas distâncias implica em uma vida transcorrida, quase integralmente, ao longo de um meio infraestruturado reservado exclusivamente aos automóveis. Se a maioria das pessoas percorrem uma rodovia em algum momento da vida, para os caminhoneiros, que nela permanecem a maior parte do tempo, de pontos de passagem, as estradas se tornam lugares de permanência. Logo, a excepcionalidade do caminhoneiro deriva de seu vínculo com o espaço reservado ao trânsito, de um habitar em movimento tão destacado pelas mobilidades (Freire-Medeiros, 2024). Muito antes da globalização ou de uma virada teórica das mobilidades, o movimento, longe de ser uma exceção, já era a regra para essa categoria profissional – tipicamente moderna – e fonte de uma identidade distinta. Por sua vez, a questão que Aderaldo convida a enfrentar, ao tratar sobre as formas de pensar a periferia, é se esse local que caracteriza seus residentes deve ser ou não compreendido binariamente como um avesso estanque e separado da cidade. Mais do que isso, será que os próprios motoristas se compreendem habitando um mundo à parte e invertido?
Quanto a isso, Fontgaland (2018) aponta na literatura especializada, a partir dos anos 2000, um enfoque na vida multilocalizada das rotinas nas boleias dos caminhões, perspectiva que o mesmo adere e busca avançar ao retratar a domesticidade masculina sobre rodas, como meio de viabilizar uma permanência multilocalizada. A intenção é fugir de uma descrição de fluxos inconstantes e descontínuos, completamente opostos a vida estacionada nas cidades. Por onde passam, no mínimo, os caminhoneiros representam elos passageiros, que no agregado da categoria se tornam um elemento móvel regular, dos mais capilarizados no território nacional. Logo, quais marcas mais duradouras são deixadas por eles nas diferentes paisagens que transbordam pelas estradas? Evidentemente, existe todo um equipamento social de beira de estrada, fixado para permitir a mobilidade daqueles que passam ou, pelo menos, converter tais deslocamentos em oportunidades de negócios. Um “mundo das rodovias”, com toda a sua rede peculiar de postos, restaurantes, pontos de descanso, grandes varejos, comércios ilícitos e policiamento. Ao olhar para esses suportes logísticos fixos, que viabilizam mobilidades mais intensivas, parece plausível que processos sociais semelhantes aos dos centros urbanos possam ser mapeados. A recusa da imagem de uma periferia relegada ao lado de fora do urbano, como discutida por Aderaldo (2021), também se aplicaria à imagem das rodovias? Será que, na visão dos próprios caminhoneiros, eles habitam algo mais do que uma sombra dos centros urbanos, do que um complemento indispensável, mas isolado no meio do caminho? Sob quais circunstâncias o profissional do volante pode se encontrar situado em locais ambivalentes, inadequados para ambos os compartimentos conceituais?
Na dissertação de Fontgaland (2018), essa ambiguidade aparece, sobretudo, nos padrões culturais, na conversão de veículos em escritórios e domicílios, uma espécie de improviso que emula a vida urbana. Entretanto, uma outra gama de zonas cinzentas podem ser apontadas quando o olhar se volta para o papel das tecnologias digitais nas últimas décadas. Para começar, cabe considerar como as mobilidades redefiniram, profunda e assimetricamente, as “experiências de tempo e espaço, presença e ausência, proximidade e distância” (Freire-Medeiros, 2024, p. 425). Sobretudo quando pensamos na profunda mudança ocorrida nas interações telemediadas, cada vez mais equiparáveis com as de co-presença, em termos de relevância empírica e analítica (ibidem). Para ilustrar essa questão é possível pensar nos caminhoneiros como uma espécie de proto-homeoffice, primeiro, pela necessária conversão de locais de trabalho em residência móvel e, segundo, pela distância física entre os motoristas e a supervisão. Ambas telefonia e internet móveis são fenômenos relativamente recentes, ainda mais considerando a expansão da cobertura das mesmas, logo, como se modificou a forma de reportar o andamento das viagens desde a época dos orelhões? Essa aproximação virtual entre motoristas e instâncias supervisoras – com celulares, rastreadores, aplicativos de navegação, medidores de desempenho (telemetria) –, ademais, ocorre em uma categoria com idade média de 44,8 anos e 19 anos de experiência (CNT, 2019), ou seja, onde boa parte dos profissionais acompanharam as transformações advindas dessa progressiva digitalização dos processos sociais. Nesse sentido, mais do que alterar as percepções sobre controle e autonomia durante a jornada de trabalho, cabe investigar como a inovação tecnológica das últimas décadas alterou a vida nas estradas.
Inspirado em Tim Ingold, Aderaldo (2021) define a periferia enquanto uma conjunção de traçados, uma soma peculiar de caminhos que conectam populações e outras espacialidades. Uma definição ainda mais literal quando se trata de “territórios rodoviários”. Entretanto, o mapeamento de tais espacialidades – seja por instituições públicas e privadas ou pelos próprios caminhoneiros – precisa considerar a multiplicação dos caminhos digitais, com todas as suas implicações. Por exemplo, as relações à distância estariam se tornando mais contínuas devido ao ambiente virtual? Isso diminuiria a saudade ou aumentaria as preocupações? Seria o caso de uma presença familiar mais ativa, ainda que telemediada, por parte de muitos dos residentes das estradas? Ou, de modo mais geral, na vida multilocalizada dos caminhoneiros, estarão eles também marcando presença em “salas virtuais” comuns aos residentes urbanos?
Além da peculiar localização das atividades profissionais ou consequente distância entre as relações interpessoais, cabe acrescentar um outro possível eixo da rotina: o consumo.
Com semelhante intenção de se afastar de imagens de periferias isoladas, concebidas por narrativas da exclusão como universos da pobreza circunscritos em mundos à parte, Vera Telles (2006) enfatiza a importância da expansão e diversificação dos grandes equipamentos do consumo, a exemplo dos shoppings centers, que passam a promover uma certa integração social dos jovens de periferia via um sedutor consumismo. A experiência das gerações mais jovens ganharia legibilidade no encontro da crise do trabalho fordista com a expansão do consumo – com todas as suas desigualdades. Processos que tencionariam o binarismo centro-periferia, revelando um novo modo de ver o social em clivagens porosas e transbordantes. A esse respeito, a literatura converge para um aumento na instabilidade e precarização dos postos de trabalho no setor de transporte, contudo, não parece haver igual atenção quanto a inserção social desses profissionais enquanto consumidores, ainda que em posição desvantajosa. Quais os hábitos dos consumidores que habitam as estradas? Quais equipamentos de consumo são mais acessíveis, seja no entorno rodoviário, em meio a jornada, durante as folgas ou virtualmente? No ato de consumir ou ser interceptado por anúncios, a identidade da categoria se reforça ou esses profissionais se inserem em outros nichos populacionais? Como o acesso ao consumo afeta a percepção sobre o aproveitamento do tempo de folga e lazer? Fora que a questão do consumo implica não apenas um esforço dos caminhoneiros em se conectar com o mundo, mas também daqueles que desejam chegar até eles.
De volta ao mapeamento de processos sociais situados, dada a identificação de possíveis zonas cinzentas alargadas pelos dispositivos digitais, vale considerar novamente os paralelos entre produtores audiovisuais e motoristas. No primeiro caso, sujeitos periféricos buscam ativamente compreender a si mesmos ao refletir sobre seus locais de pertencimento dentro da cidade, um exercício que impele a busca por ferramentas intelectuais. Agora, o que se pode dizer no caso dos caminhoneiros, em matéria de reconhecimento e interpretação do espaço por onde circulam, ou quanto ao emprego de ferramentas intelectuais para tanto? Uma boa forma de enfrentar essa questão é acompanhar a afirmação de Matteo Pasquinelli (2023), quando o autor sustenta que todo trabalho é intelectual, mesmo o trabalho manual e desqualificado dos caminhoneiros. Nesse sentido, na verdade, os empreendimentos para desenvolvimento de direção autônoma evidenciariam, cada vez mais, a carga de inteligência presente nessa atividade. O autor vai além ao dizer que não só toda atividade produtiva tem seu aspecto de trabalho mental, como esse sempre é um aspecto mais importante do que o dispêndio de força física, já que sempre é preciso direcionar a força de modo apropriado. Portanto, o fato de volantes não serem escrivaninhas, não exclui o esforço mental inerente à vida nas estradas. Por outro lado, evidentemente, parece plausível supor que os caminhoneiros não se reconheçam enquanto pensadores da estrada e nem considerem que compreender o que nelas se passa seja um engajamento intelectual. Nesse sentido, as suas formulações sobre as territorialidades por onde circulam talvez exijam uma leitura a contrapelo. De qualquer modo, é indispensável saber por quais caminhos seguir, onde abastecer ou pernoitar, sobre quais condições climáticas prosseguir, ou quais regiões são mais propensas a acidentes e roubos. A aquisição desses conhecimentos estritamente necessários para realizar os fretes deve beneficiar-se e muito de diversos dispositivos digitais, a serem investigados. Se rastreadores, telemetria e câmeras de vídeo são formas de mapeamento que privilegiam agentes externos, a atividade sempre se apoiou em uma compreensão nativa sobre os caminhos a serem atravessados.
Indo além do estritamente profissional, a experiência de viajar e desfrutar o caminho, de fazer um certo turismo paralelo, pode usufruir e muito de câmeras, álbuns em redes sociais, indicações de bons lugares para conhecer ou reabastecer as necessidades cotidianas. Se a telemetria avalia o desempenho dos caminhoneiros, como esses últimos avaliam os demais trabalhadores e equipamentos disponíveis ao longo do caminho? Sobretudo quando pensamos na necessidade dos estabelecimentos em aparecer no Google Maps, acrescidos de avaliações e comentários públicos feitos pela clientela. Assim, ainda que esses mapeamentos de processos sociais não sejam socializados na forma de filmes independentes, é pertinente investigar as formas próprias de elaboração e socialização de tais mapas, no contexto dos caminhoneiros. Em especial, para vislumbrar em tais “mapas” os acúmulos teóricos próprios a esses interlocutores.
O texto de Aderaldo (2021) convida, além do mais, a pensar quem define as fronteiras entre espaços e em benefício de quais interesses. Quanto a isso, por exemplo, seria possível apreender definições do ambiente rodoviário que restringem outras possibilidades de vivenciar tais cenários? Essas espacialidades são adequadas em vistas de quais sujeitos e rotinas? Haveria espaço para a vida doméstica dos caminhoneiros ou tudo seria pensado em prol do transporte de cargas ou da circulação mais esporádica de turistas? Qual a importância do comércio à beira de rodovia para as populações das proximidades, quanto às oportunidades de trabalho, consumo e convívio com viajantes?
Por fim, é difícil antecipar se o levantamento de documentação empírica resultará em algo como um insight etnográfico, capaz de iluminar um esquema teórico inovador para a leitura dos dados obtidos, ainda assim, estar atento para as formas nativas de definir espacialidades parece uma boa pista. Sem contar a probabilidade de pessoas, que vivem tanto tempo percorrendo autopistas, alçarem tais espaços à condição de filtros do olhar ou de algo equivalente à posicionalidade epistêmica periférica.
Referências bibliográficas:
ABRAHÃO, Luciano. Telemática em Nuvem e Ciência de Dados como Ferramenta de Gestão de Veículos Comerciais. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022.
ADERALDO, Guilhermo. Periferias “móveis”: seguindo experiências de realizadores (áudio)visuais nas margens da metrópole. In: Souza, Candice Vidal & Guedes, André D. (orgs.). Antropologia das mobilidades. Brasília, ABA Produções, 2021.
BERRI, Rafael. Sistema ADAS para identificação de distrações e perturbações do motorista na condução de veículos. Tese (Doutorado em Ciências de Computação e Matemática Computacional) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019.
BOODLAL, L. & CHIANG, K. Study of the Impact of a Telematics System on Safe and Fuel-efficient Driving in Trucks. U. S. Department of Transportation, 2014.
CNT. Pesquisa CNT perfil dos caminhoneiros 2019. Brasília, 2019.
CNT. Anuário CNT do Transporte 2022: Estatísticas Consolidadas. 2022.
FONTGALAND, Arthur. Caminhoneiros, caminhos e caminhões: uma etnografia sobre mobilidades nas estradas. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
FREIRE-MEDEIROS, Bianca. A metrópole do capital de rede: mobilidades socioespaciais e iniquidades urbanas. Cadernos Metrópole. São Paulo, v. 26, n. 60, pp. 423- 442, 2024.
LEVY, Karen E. C. The Contexts of Control: Information, Power, and Truck-Driving Work. The Information Society: An International Journal, 2015.
MARCUS, G. Ethnography in the World System: The emergence of multi-sited Ethnography. Annual Review of Anthropology, 24, 95-117, 1995.
PASQUINELLI, Matteo. The eye of the master: A social history of artificial intelligence. London; New York: Verso, 2023.
SCARAMELLA, Maria Luisa. Nessa Longa Estrada da Vida: Um Estudo Sobre as Experiências dos Caminhoneiros. Dissertação (Mestrado em Antropologia) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004.
TELLES, Vera. Trajetórias urbanas: fios de uma descrição da cidade. In Telles, V. & Cabanes, R. Nas tramas da cidade: trajetórias urbanas e seus territórios. São Paulo: Associação Editorial Humanitas, 2006.
Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography.
Marcus, G. E. (1995). Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography. Annual Review of Anthropology, 24, 95-117.
Bruno Vieira Borges
Historiador e Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo (PPGS-USP). Pesquisador associado ao Observatório do Lazer e do Esporte (OLÉ) e ao Mobilidades: Teorias, Temas e Métodos (MTTM). E-mail: brunovieiraborges@usp.br
Contextualização
O texto em foco é de George Marcus, fundador da importante revista Cultural Anthropology e Docente da Universidade da Califórnia. Seu interesse pela etnografia começou com sua irmã, que, ao casar com um antropólogo, passou meses na Malásia comunicando à família, por meio de cartas, as experiências que tinha (SILVA, 2017). A leitura dessas cartas encantou o jovem Marcus, levando-o a trilhar uma carreira acadêmica dedicada, sobretudo, às técnicas de escrita etnográfica e às reflexões metodológicas.
Ethnography in/of the World System é um artigo publicado no vigésimo quarto volume do Annual Review of Anthropology, em 1995. O periódico em questão integra a rede Annual Review cuja especialidade é difundir textos seminais das diversas disciplinas. Como o debate da globalização, à época, desafiava profundamente os antropólogos acerca de suas técnicas tradicionais de etnografia, o texto de Marcus veio de encontro a essa demanda.
Aplicação ao objeto de pesquisa
George Marcus não foi o inventor da etnografia multissituada, mas foi fundamental para a elaboração metodológica dessa abordagem. Atento à precedente produção dos anos 1980, o antropólogo capturou a emergência de um modo alternativo de organizar no espaço e no tempo, as tramas da alteridade e, portanto, o próprio ofício do antropólogo.
Em 1922, Bronisław Malinowski publicou Os Argonautas do Pacífico Ocidental. O livro, fruto de uma inserção entre os trobriandeses da Nova Guiné, tornou-se um dos grandes pontos de inflexão da história da Antropologia. A pesquisa de Malinowski, com efeito, estabeleceu boa parte dos parâmetros teórico-instrumentais mais comuns da etnografia, como, por exemplo, a permanência por um longo período no campo em estudo, a aprendizagem da língua local, o interesse sincero pelos costumes e crenças, não mais encaixotando-os enquanto expressão do irracional e do não sofisticado. Com o avanço dos macroprocessos capitalistas, esses parâmetros passaram a costurar pesquisas que se dedicavam, sobretudo, a rastrear as resistências e as acomodações das culturas locais no mundo globalizado.
Outros estudiosos, no entanto, avaliaram que as características descontínuas do mundo contemporâneo enfraquecem etnografias extremamente contidas em um único espaço ou, então, que enquadram seus acontecimentos a grandes narrativas, como a do “sistema mundo” de Immanuel Wallerstein. George Marcus, aproximando-se dessa crítica, defende que devemos traçar estratégias para perseguir as conexões que se formam não necessariamente seguindo o referencial das fronteiras territoriais e dos dilemas clássicos do “capitalismo organizado”. Discutir os caminhos viáveis para uma etnografia multissituada é, nesse sentido, central para revigorar e atualizar a atuação do antropólogo.
É comum associarmos etnografia ao trato do cotidiano ou, em outras palavras, ao conhecimento advindo do contato face-a-face; por este motivo, parece incoerente alargar seu escopo espacial. Para Marcus, entretanto, a etnografia multissituada não tem como objetivo a representação holística de uma totalidade. Trata-se de entender que a etnografia de qualquer formação cultural no mundo globalizado é, em alguma medida, também sobre este último. No mapeamento do terreno, pode-se estipular uma espécie de “sistema-mundo” do que se estuda, mas sempre recordando os caminhos e as trajetórias que compõem as experiências.
A maior mobilidade do pesquisador não compromete o desenvolvimento e a complexidade de um trabalho de campo, embora possa abalar algo de sua “mística convencional”. Conforme repara George Marcus, o atravessamento de diferentes lugares não é estranho à etnografia, mas, para que o potencial da abordagem multissituada seja executado, torna-se imprescindível pensá-los dentro de um mesmo quadro analítico e para além da uniformidade. Nessa perspectiva, aliás, o cuidado com os idiomas e as linguagens, que já aparecia em Malinowski, deve ser redobrado, pois o pesquisador tende a encontrar mais nuances, fraturas e dissonâncias ao passo que articula não somente um lugar específico.
Uma última “ansiedade metodológica” enfrentada é a figura do subalterno. Historicamente, a antropologia acostumou-se a enquadrar as ações exercidas por sujeitos subalternos dentro dos esquemas da economia capitalista. Na etnografia multissituada, porém, a atenção deve ser direcionada para outros domínios, a começar pelo entendimento de que a produção de resistências não está sempre desvinculada de cumplicidades sistêmicas. De acordo com George Marcus, a expansão do que está “em foco” favorece a qualificação, por um lado, do que está acomodando e, por outro, do que está resistindo. É axiomático, portanto, que um objeto de estudo multissituado imponha a dimensão comparativa.
Com a feitura desses apontamentos, projetamos que a etnografia multissituada se faz “em torno de cadeias, caminhos, fios, conjunções ou justaposições de locais nos quais o etnógrafo estabelece alguma forma de presença física literal, com uma lógica explícita e postulada de associação ou conexão entre os locais” (MARCUS, 1995:105). Enquanto técnica, podemos aplicá-la a fenômenos culturais cuja identidade conceitual revela-se, em maior ou menor grau, maleável na medida em que traçamos os movimentos que a compõem. Nesse passo, George Marcus aponta seis entradas a serem consideradas e seguidas pelos pesquisadores: pessoas, coisas, metáforas, histórias/alegorias, vidas/biografias e conflitos.
Ao trazer essas considerações para a minha realidade de pesquisa e, igualmente, para o meu corpo de referências teóricas, algumas ideias me ocorrem. De imediato, a correlação entre as seis entradas acima citadas e os cinco tipos básicos de mobilidade, a saber mobilidades corporais, mobilidades de objetos, mobilidades imaginativas, mobilidades virtuais e mobilidades comunicativas (FREIRE-MEDEIROS & LAGES, 2020). Mimi Sheller e John Urry (2006) no “manifesto teórico das mobilidades” não deixaram de fazer menção ao artigo de George Marcus como inspiração, o que afina ainda mais esse diálogo.
Quando penso no meu tema - as viagens dos torcedores organizados da Gaviões da Fiel -, a dimensão talvez mais óbvia seja o movimento das pessoas. Dispostos a enfrentar com destacável frequência as estradas brasileiras e latino-americanas, habitando ônibus muitas vezes precários, esses corinthianos diferenciam-se de excursionistas que viajam com o intuito de chegar a um evento específico e isolado. No ano de 2023, foram mais de 30 caravanas organizadas para diferentes estádios. Considerando o tempo de acesso que terei ao campo, o processo sugerido por Marcus de acompanhar os movimentos e neles permanecer, poderá ser mais encorpado, posto que a Gaviões faz do ato de viajar uma cotidianidade.
Conforme assinalei no projeto de mestrado, uma das maneiras de aproximar-se corporalmente de grupos e agentes é através da técnica de sombreamento (JIRÓN, 2011). A pesquisadora Paola Jirón enfatiza que as experiências múltiplas e híbridas de mobilidade são sempre parciais e processuais; assim, tornar-se a sombra de alguém é tanto um compromisso com a “teorização mais móvel” quanto um experimento denso de reflexividade, de “sentir na pele” o que o outro sente; embora não se possa, de fato, “viver na pele” desse outro.
Devemos, outrossim, asseverar que existem formas de ser e habitar em movimento normalmente mediadas por tecnologias não-humanas, entre as quais os veículos. Como John Urry (2004) notificou, a sociologia que elege a estabilidade como o estado natural em que as coisas deveriam estar, falha em perceber o caráter específico e profundo da dominação da “automobilidade” na contemporaneidade. As paisagens urbanas e as próprias sociabilidades são abaladas, reforçadas, inventadas e persuadidas pelos tipos de automóvel, bem como pelos significados amplos de “automobilidade”, como as noções de instantaneidade, flexibilidade e liberdade - todas situacionais e sujeitas aos abalos que a realidade das coisas funda.
A condução do sombreamento, à vista disso, precisa apoderar-se do “saber viajar” que provém da relação corpo/máquina, ou melhor, corpo/máquinas, no plural, porque a maior parte das experiências de mobilidade na metrópole são multimodais (IMILÁN & JIRÓN, 2018). É muito em razão dessa circunstância que Paola Jirón (2011) fez seu campo em Santiago aos moldes de uma “etnografia multissituada”, abordagem que a permitiu entender as razões de determinadas performances na variação do tipo de movimento feito. Assim, podemos qualificar o desenho metodológico de Marcus em consonância com a máxima de detectar sistemas que demarcam a consciência cotidiana e as ações, ou seja, de como as pessoas sentem e articulam diferentemente em diferentes locais.
“Sombrear” torcedores desde suas casas até a sede da Gaviões, de onde partem as caravanas, já possibilita um primeiro “mapear o terreno”. Um indivíduo A pode começar sua jornada caminhando do Jardim Universo (Mogi das Cruzes, SP) até a estação de Brás Cubas (Mogi das Cruzes, SP); habitar o trem até a estação terminal da linha 11-Coral (Luz, São Paulo, SP); solicitar um uber até a Rua Cristina Tomás, mais conhecida como Rua dos Gaviões (Bom Retiro, São Paulo, SP); para que, enfim, possa partir, em companhia de outros gaviões, até a cidade da partida. Outro indivíduo B pode fazer um caminho muito mais “simplificado”, “menos multimodal”; tomar o elevador de seu prédio no Butantã até o estacionamento e, por algumas dezenas de minutos, seguir a estrada com um automóvel próprio que o deixará no mesmo destino do indivíduo A. Bastam dois cenários, como esses hipotéticos, para sermos capazes de multissituar a etnografia e, por consequência, suscitar debates sobre as desigualdades, os presságios que são verbalizados, os códigos do corinthianismo, os capitais de rede, os “locais de transição”, as fricções, os transportes, etc.
As dimensões da história, da narrativa e da biografia, portanto, ganharão destaque. De acordo com George Marcus, as coisas costumam integrar modelos de discurso e pensamento, os quais fazem circular signos e metáforas. O mundo do futebol é, por excelência, um mundo simbólico. Em sua “multivocalidade” (ser jogo, esporte, ritual, espetáculo, instrumento de disciplina, prazer, paixão, mercadoria, empresa, etc.), o futebol coleciona e insinua diversas ideias de sorte, destino, vitória, derrota, injustiça, mérito, e assim por diante (DAMATTA, 1994). Ser torcedor passa por distribuir a si mesmo em objetos, seres, místicas e crenças. Luiz Henrique de Toledo (2010:182) chegou a afirmar, inclusive, que “há algo de nós” na camiseta do time para o qual torcemos, assim como “há algo dela agenciado em nós”.
A Gaviões da Fiel, em específico, não apenas usa a camisa do Corinthians, como cria o seu próprio manto, preferindo este último nos dias de partida Nas caravanas, aliás, vestir o fardamento dos gaviões pode ser obrigatório, como Canale (2015) percebeu em sua etnografia. Existem ônibus responsáveis por levar os instrumentos musicais, as faixas, os sinalizadores, as bandeiras, etc. E, para além da materialidade, viajam nas caravanas tanto as biografias das pessoas que portam os objetos quanto dos próprios objetos, havendo uma patrimonialização, por vezes santificada, atravessando-os (TOLEDO, 1996). Deverá ser um salto de minha pesquisa o aprofundamento sobre o que permite ou proíbe o movimento desse repertório; então, mentalizar e conectar os lugares (sede/subsedes, ônibus, restaurantes de estrada, estádios, bares, ruas, etc.) tornar-se-á um imperativo dela.
Dos indicativos feitos por Marcus, aquele mais intrigante para pensar minha pesquisa é o de “seguir o conflito”. O mundo do futebol é, em primeiro lugar, o mundo do jogo, em que se faz necessário forjar vencidos e vencedores, com abertura para o tempo fazer o primeiro tornar-se o segundo, e vice-versa. A dialética do resultado esportivo não se restringe, porém, aos noventa minutos (e acréscimos), senão pela extensão temporal do que acontece dentro de campo (HUIZINGA, 2008 [1939]). O “conflito”, nesse caso, é constitutivo do próprio sentido da prática de pôr em jogo; não se pode, portanto, resolvê-lo. O que as torcidas organizadas parecem fazer é insuflar as entradas e os motivos possíveis para o “conflito”. Disputa-se o canto (mais bonito e mais alto); a bandeira (mais bonita e maior); a composição de cores (no caso da gaviões, preza-se pela formação do “mar negro” - todos vestindo preto), a bateria (mais ritmada e contagiante); a narrativa (melhor narrada - acerca de um título, de um clássico emblemático, de uma fuga da polícia, etc); e assim por diante. Portanto, “seguir o conflito” das torcidas organizadas é, de certo modo, segui-las.
O caráter filosófico da afirmação, porém, pouco nos diz sobre as implicações reais desse conflito e, em especial, como o movimento se torna o fundamento dele. Ao reconhecer que por meio das performances a Gaviões da Fiel afirma e refaz seu lugar no mundo, caberá a mim enquanto pesquisador compreender de que maneira a tradução desse estilo de vida é realizada a depender do lugar de destino da caravana. Conforme Marcus, atentar-se às reproduções espaciais de um fenômeno cultural pode nos revelar uma série de discussões conceituais sobre como ver ou sondar etnograficamente uma “sensibilidade”. A seleção das pessoas, dos objetos, das músicas, das narrativas e das expectativas que viajarão tem correlação com o adversário a ser enfrentado? Estaríamos falando de uma lógica na qual a tônica da afirmação de identidade é condicionada e retroalimentada pelas rivalidades?
Se restringirmos o olhar da pesquisa ao ritual futebolístico realizado na arquibancada e na sede de uma torcida organizada, a tendência será atomizar cada um desses coletivos, deixando ao relento as “cadeias de interdependência” (ELIAS & DUNNING, 1992) que são capazes de integrá-los, em última análise, ao espetáculo global do futebol. Nesse sentido, é de meu interesse interpretar a Gaviões da Fiel para além dos territórios em que desfruta de maior previsão e controle das ações (sua sede, “seu” estádio, “seu” bairro, “sua” cidade), tendo como hipótese que o ato de viajar e, por consequência, se expôr a intempéries, é responsável direto pelo estreitamento dos laços de amizade, confiança e convivência torcedora por ela cultivados. Sendo nossa suspeita verdadeira ou não, é possível adiantar, conforme estamos argumentando, que a averiguação dependerá de uma abordagem móvel multissituada.
Como deverei me portar no campo com intuito de acessar, cobrir e coordenar seus múltiplos lugares? Convencionalmente, o fazer metodológico do etnógrafo circunscreve-se na reivindicação de um certo distanciamento polido mediante as razões internas dos grupos e agentes interlocutores. O antropólogo, nessa chave, é lido como um “interessado intelectualizado” disposto a viver por um certo tempo entre os “nativos” e redigir seu trabalho a partir dessa experiência de alteridade. Estaria mentindo a minha orientadora, a meus pares acadêmicos e, sobretudo, a mim mesmo, se eu pactuar com esses princípios, ainda que os falseando no meu íntimo. Sou corinthiano e sócio da Gaviões da Fiel, portanto, não sou apto ao refúgio que a figura do antropólogo desapegado oferece. Todavia, claro, não quero escrever os mandamentos de uma apologia ao torcedor alvinegro; caso quisesse, a dissertação seria, de longe, o formato textual menos recomendado.
Precisarei, então, saber negociar as diferentes identidades que tenho nas diferentes interações e nos diferentes lugares. Colocando-me à disposição para reavaliar, no trato diário e constante da pesquisa, minhas crenças e pré-noções, não estarei fazendo apenas etnografia, mas algo que possui um senso de ativismo. Como define George Marcus, o etnógrafo-ativista é aquele que, no domínio de sua persona profissional, sabe conciliar os compromissos transversais e, por vezes, contraditórios que derivam dos outros papeis sociais que guarda.
No meu caso, pode-se mostrar fundamental estar atento ao que os outros sabem ou querem saber sobre mim, a depender do momento. Posso incrementar meu “capital de rede” dentro da torcida organizada, se eu souber articular, de forma estratégica, o fato de eu ser: historiador formado pela USP, atuante no Acervo da Gaviões, sócio da Gaviões, corinthiano, “caravaneiro”, mestrando em sociologia, e assim por diante. Dessa maneira, nas palavras de Marcus, poderei aprender um pouco sobre cada fatia do sistema e, por fim, tentar organizá-las na redação, como se fossem peças de um mosaico móvel e multissituado.
Referências complementares
CANALE, V. Viajando com os Gaviões: narrativas de uma caravana do Movimento Rua São Jorge. In: HOLLANDA, B. B. & NEGREIROS, P. L. (org.). Os Gaviões da Fiel: ensaios e etnografias de uma torcida organizada de futebol. Rio de Janeiro, RJ: 7Letras, 2015.
DAMATTA, R. Antropologia do óbvio: Notas em torno do significado social do futebol brasileiro. Revista USP, n. 22, 1994.
ELIAS, N. & DUNNING, E. A busca da excitação: desporto e lazer no processo civilizacional. Lisboa: Difel, 1992.
FREIRE-MEDEIROS, B. & LAGES, M. P. A virada das mobilidades: fluxos, fixos e fricções. Revista Crítica de Ciências Sociais, 123, 2020.
HUIZINGA, J. Homo Ludens. São Paulo, SP: Perspectiva, 2008 [1939].
IMILÁN, W. & JIRÓN, P. Moviendo los estudios urbanos. La movilidad como objeto de estudio o como enfoque para comprender la ciudad contemporânea. Quid16, n. 10, 2018.
JIRÓN, P. On becoming the shadow/la sombra. In: BUSCHER, M.; URRY, J. & WITCHGER, K. (org.). Mobile methods. Abingdon, UK; New York, US: Routledge, 2011.
SHELLER, M. & URRY, J. The new mobilities paradigm. Environment and Planning A, v. 38, no 2, 2006.
SILVA, P. K. Entrevista com George Marcus. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, nº 47, pp. 401-416, 2017.
TOLEDO, L. H. Torcer: a metafísica do homem comum. Revista de História, n. 163, 2010.
. Torcidas organizadas de futebol. Campinas, SP: Anpocs, 1996.
- Trabalhos finais pt. 2
-
Transformándome en la sombra.
Jirón Martínez, P. (2012-09).Transformándome en la "sombra". Disponible en https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/143722
Natália de Sá Ribeiro de Barros Barreto
Mestranda em Sociologia na Universidade de São Paulo (USP). E-mail: nataliabarreto@usp.br
ContextualizaçãoPaola Jirón é Professora Associada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Chile e doutora em Planejamento Urbano e Regional pela London School of Economics and Political Science, no Reino Unido. Com passagens pelo Banco Mundial, ONU-Habitat e Comissão Econômica para a América Latina como consultora, atualmente coordena o Núcleo Milenio Movilidades y Territorios (MOVYT). Sua principal área de atuação concentra-se nos estudos urbanos a partir de perspectivas relacionadas à mobilidade, gênero, quotidiano e metodologias interdisciplinares.
Publicado originalmente em inglês, o artigo em questão integra o livro Mobile Methods (2011), o qual reúne textos de diversos autores que se propõem a discutir os métodos móveis e sua relação com o novo paradigma das mobilidades, num contexto no qual se tem em perspectiva o movimento como papel central na produção das realidades. A tradução do artigo em espanhol, por sua vez, foi publicada em 2012 na revista chilena Bifurcaciones, cujo perfil editorial se volta para trabalhos que promovem uma reflexão crítica sobre as diferentes representações da vida urbana contemporânea e a relação entre a cidade e seus habitantes.
Metodologia apresentada no texto: a técnica do sombreamento
Paola Jirón propõe uma análise fenomenológica da experiência de mobilidade na cidade de Santiago, Chile. A autora destaca a impossibilidade de o pesquisador apreender por completo a experiência de estar em movimento, sendo uma aproximação dotada de limitações que, embora não possam ser plenamente superadas, devem ser enfrentadas em um processo reflexivo quanto à metodologia aplicada.
A aproximação exige do pesquisador a movimentação ao lado das pessoas - tanto fisicamente como em interações - e, por essa razão, Jirón sugere o método etnográfico da mobilidade cotidiana desses sujeitos. Destaca-se que, além da posição do pesquisador e dos métodos aplicados serem "adaptados reflexivamente" (p. 2), é necessário ter a compreensão de que as experiências de mobilidade são múltiplas e híbridas no espaço urbano; ao contrário das ideias de fixação e permanência, a análise urbana precisa levar em conta processos fluídos em várias escalas.
Jirón se vale da etnografia por ser um método que implica um investigador participando abertamente na vida diária das pessoas, por um período prolongado de tempo, observando os acontecimentos, escutando o que dizem e realizando perguntas, de modo a coletar os dados disponíveis para iluminar as questões que constituem o foco da investigação. Na etnografia, então, o pesquisador imerge em uma forma de vida coletiva para coletar dados em primeira mão.
Uma das formas de observar práticas de mobilidade a partir do método etnográfico é a chamada etnografia multilocalizada. Isto é, fazer uma investigação que não está confinada em um único lugar, mas a uma conexão de lugares cujas relações entre si são importantes, para além das relações internas. No caso de Santiago, a autora escolheu um enfoque etnográfico multilocalizado móvel, isto é, a descrição densa das rotinas diárias dos habitantes urbanos móveis, necessitando que ela seja profunda e multifacetada.
Jirón pretendia conhecer o significado que as pessoas atribuíam a sua experiência, ou seja, era fundamental que a autora entrasse em contato com seu objeto de pesquisa. Mais do que isso, interessava à Jirón compreender o que os havia levado a se mover, o que acontecia antes e depois do percurso. Com esse objetivo, foi adotada por ela a estratégia metodológica de seguir individualmente os sujeitos pesquisados em suas rotinas diárias, "observando a forma com que os participantes organizam e experimentam suas viagens, compartilhando e refletindo colaborativamente sobre sua experiência em movimento” (p. 6).
A autora tornou-se uma "sombra móvel" dos sujeitos analisados: ela os seguia em suas rotinas diárias de locomoção, bem como a preparação inicial para elas (se arrumar para sair de casa ao trabalho, por exemplo) e durante os momentos de viagens (como "técnicas" de entrar no ônibus lotado). O objetivo era "estar ali" nas práticas cotidianas, de modo que seguir seus movimentos era a maneira mais próxima de entender sua experiência.
A autora também construiu mapas espaço-temporais onde foi possível registrar o tempo e o lugar, permitindo uma análise do uso espacial da cidade pelas pessoas. O mapa foi complementado com as narrativas dos próprios sujeitos sobre as experiências nesses lugares, assim como nas viagens diárias e suas estratégias para tal.
Outra técnica utilizada em sua pesquisa foi a fotografia, empregada de duas formas: primeiro, como registro objetivo das narrativas dos sujeitos seguidos, criando uma imagem em movimento a partir da construção do espaço feito por meio do movimento – como fotografar uma praça na qual o entrevistado afirma observar com atenção todas as manhãs do ônibus. Em segundo lugar, a foto foi usada como "foto-elicitación", em que ela perdia seu caráter objetivo e ganhava subjetividade, à medida que a pesquisadora apresentava suas imagens aos entrevistados para que eles oferecessem suas descrições próprias dos espaços clicados.
Desafios metodológicos da minha pesquisa: métodos móveis e cartografia socialAinda que na minha atual pesquisa de mestrado sobre o público potencial da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) eu tenha em perspectiva ampliar a análise das limitações simbólicas do acesso à Orquestra, para abarcar também limitações objetivas, como a mobilidade - sobretudo em relação ao deslocamento - as leituras sobre os métodos móveis nesse primeiro momento da disciplina me remetem mais a minha experiência prévia de pesquisa e extensão no Centro Histórico de Salvador (CHS), junto ao grupo Panoramas Urbanos[1].
No primeiro módulo da ACCS, “O Habitar em Casarões Ocupados do Centro de Salvador”, foi desenvolvida a Cartografia Social intitulada Mapa Vivo: O Centro Histórico Segundo seus Moradores, a qual apresenta o CHS sob o olhar das mulheres do Movimento Sem Teto da Bahia (MSTB), ocupantes dos casarões situados à Rua do Passo.
O Mapa Vivo é um contra-mapa, tendo como objetivo principal confrontar a visão estritamente turística dos mapas tradicionais - que comumente priorizam informações sobre rotas e locais atrativos para os visitantes. Tais imaginários e mapas invisibilizam a realidade dos moradores que habitam a localidade há gerações e que possuem suas formas de viver e habitar ameaçadas por um processo contínuo e sistemático de gentrificação. Assim, o Mapa Vivo apresenta as práticas cotidianas dos moradores do Pelourinho - as pessoas que de fato dão vida à região e que a ocupam de maneira singular, trazendo cenas do cotidiano dos moradores - por eles próprios identificadas - relacionadas às atividades de trabalho, lazer, violência e sociabilidade.
Figura 1: Mapa do Pelourinho, s/d
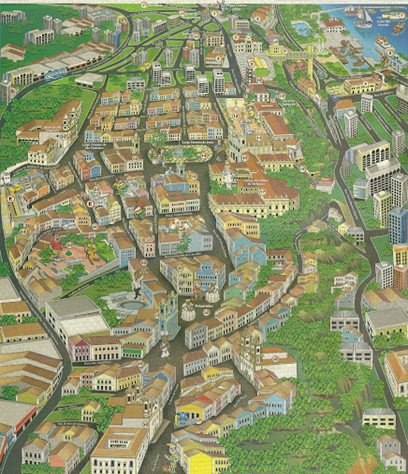
Fonte: Empresa Salvador Turismo (Saltur)
Figura 2: Mapa Vivo, 2018

Fonte: Acervo Panoramas Urbanos
A base do Mapa do Pelourinho distribuído pela Saltur (Figura 1) foi intencionalmente reproduzida no Mapa Vivo (Figura 2), mas de uma forma antitética: enquanto os casarões coloniais ganham destaque no primeiro, estes encontram-se esmaecidos no segundo, dando ênfase justamente às cenas do cotidiano e em como o Centro é composto de vida, de gente, de movimento. Trata-se de um deslocamento da pergunta “onde fica?”, para “por onde e como circulam?”.
Assim, a leitura do texto de Jirón me fez refletir sobre como o processo metodológico da elaboração do Mapa Vivo - embora não tenha abordado isso de forma sistematizada - perpassou pela percepção das mobilidades em múltiplas dimensões. À época, discutíamos ativamente sobre como o mapa da Saltur tratava-se de um mapa estático não só pelo destaque nos casarões, imóveis por natureza, mas também pela ausência dos tensionamentos e disputas entre os agentes, dos deslocamentos cotidianos, da exposição das múltiplas relações que ali são estabelecidas.
No entanto, representar essas outras dimensões não é tarefa simples. A pergunta feita não só nessa primeira experiência de elaboração da cartografia, mas em todas as outras realizadas desde então é a seguinte: como representar movimento num meio estático? E, uma vez representadas figurativamente, como afastar a noção dos mapas tradicionais de mera localização? São perguntas para as quais não há uma resposta definitiva; elas servem mais como questões norteadoras no momento da concepção de cada cartografia. Afinal, retomando Jirón, as experiências de mobilidade são múltiplas e híbridas, de modo que os métodos aplicados - de apreensão e representação - devem ser adaptados reflexivamente.
Dito isso, o trabalho contou com as seguintes etapas: (1) familiarização da equipe de extensão e dos moradores com a cartografia social; (2) rodas de conversa; (3) visita às ocupações; (4) entrevistas em profundidade com interlocutores das rodas de conversa com narrativa de histórias de vida e caminhada pelos locais onde já moraram no CHS; (5) sintetização das narrativas em cenas do cotidiano; (6) Execução da parte gráfica.
Duas técnicas aplicadas no Mapa Vivo se aproximam daquelas utilizadas por Jirón. Assim como os mapas construídos pela autora foram complementados com as narrativas dos próprios sujeitos sobre as experiências nos caminhos percorridos, a ACCS também o fez com os moradores com os quais foram realizadas as caminhadas[2]. Para sintetização das narrativas do cotidiano em imagens (posteriormente revistas, confirmadas ou ressignificadas pelos entrevistados), antes foi realizada uma reunião com todos os moradores participantes, momento em que eles localizaram na base do mapa, em versão ampliada, as cenas cotidianas (Figura 3). Se a intenção do encontro era organizar a distribuição e localização das cenas, para a surpresa da equipe, ao fim da reunião, a base do mapa estava completamente riscada e de difícil compreensão (Figura 4).
Na minha visão, esse “esboço”, mais do que a versão final, representa com maior precisão a experiência de estar em movimento dos moradores do CHS, justamente pela sua forma caótica, em que cenas se cruzam e se sobrepõem, estando algumas delas inclusive às margens do espaço delimitado pelas construções no mapa. Nesse esboço, se verifica empiricamente a ressalva feita por Jirón no início do texto, sobre a impossibilidade dos movimentos serem captados em sua totalidade, sendo somente aproximações.
Figura 3: Reunião com moradores das ocupações, 2019
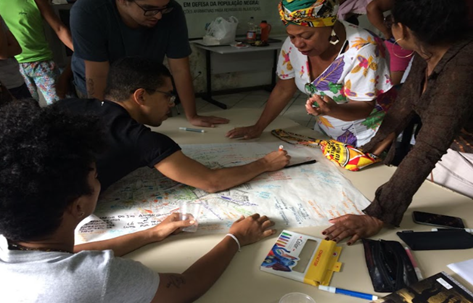
Fonte: Acervo pessoal
Figura 4: Esboço do Mapa Vivo ao final da reunião, 2019

Fonte: Acervo pessoal
Assim, a partir do contato com a disciplina e, sobretudo, com o texto de Jirón, pude exercitar um olhar mais sistemático para a interseção entre o mapa produzido anos atrás e a aplicação dos métodos móveis. Mais do que isso, a leitura contribuiu para a compreensão de que a mobilidade não só integra a metodologia aplicada, como faz parte do mote da concepção do mapa.
Places and mobilities: studying human movements using place as an entry point
SLAPE; WYSS, Anna; ZITTOUN, Tania; PEDERSEN, Oliver; DAHINDEN, Janine; CHARMILLOT, Emmanuel. "Places and mobilities: studying human movements using place as an entry point". Mobilities, v. 18, n. 4, 567–581, 2023.
Guilherme Olímpio Fagundes
Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo (PPGS-USP). Pesquisador associado ao Centro de Inteligência Artificial (C4AI/USP). E-mail: guilherme.olimpio@usp.br
Contextualização
O artigo é assinado pelo coletivo Slape, sigla para o projeto de pesquisa Small Localities at the Periphery of Europe. O intuito é demonstrar o trabalho coletivo de pesquisadores associados ao projeto, vinculado ao National Center of Competence in Research (NCCR): The Migration-Mobility Nexus (Universidade de Neuchâtel, Suíça) e coordenado pela psicóloga social Tania Zittoun e pela antropóloga Janine Dahinden, autoras do artigo. Além delas, são co-autores o psicólogo Oliver Clifford Pedersen, a antropóloga Anna Wyss e o sociólogo Emmanuel Charmillot, também associados ao NCCR.
O artigo "Places and mobilities: studying human movements using place as an entry point" compõe o dossiê homônimo do periódico Mobilities (2023), criado inicialmente por John Urry e colaboradores do até então Novo Paradigma das Mobilidades para abrigar pesquisas científicas que contribuam para o avanço da sociologia móvel. Esse dossiê reúne trabalhos empíricos e conceituais que tomam diferentes lugares (places) como o seu mirante de observação (ver Ringel, 2023; Anderson, 2023; Lems, 2023; Dahinden, 2023; Ellis, 2023; Cresswell, 2023; Schiller, 2023; Salazar, 2023)
Lugar: regimes, temporalidades e imaginários
O intuito deste texto orientado à pesquisa é propor interlocuções entre a agenda de investigação do coletivo Slape e seus colaboradores (2023) e o estudo em andamento sobre como a prática de networking de start-ups de base tecnológicas, situados no programa de aceleração Nexus, varia conforme seu endereço social (i.é, o produto da soma de suas origens sociais com categorias sociais atribuídas ao longo de sua trajetória)? Essa pergunta se orienta para um tipo específico de empreendedorismo, àquele de base tecnológica, no qual a incerteza sobre o futuro, o tipo de mercado e a prática de networking possuem especificidades (Elfring et al, 2021; Maia, 2024; Stark, 2009). Fundamentada na sociologia econômica, o teste de hipótese é conferir como as redes pessoais dos empreendedores alteram-se no período inicial de um ano, instante decisivo para as próximas fases da carreira empreendedora e de sua empresa, a fim de evidenciar se haveria diferenças significativas entre as redes e a trajetória social do empreendedor, mediados por tais mecanismos.
O método de Análise de Redes Sociais (ARS) demanda que sejam produzidos dados de natureza relacional, o que se pretende coletar por meio da conjugação de duas técnicas não estruturadas: a entrevista em profundidade e a observação participante. É sobre esta última que abordarei com ajuda do trabalho de Slape e colaboradores (2023).
2.1 A aceleradora Nexus como lugar
Slape e seus colaboradores (2023) propõem lugar (place) como um importante operador teórico-metodológico em conjunto com as mobilidades. Para mostrar a força heurística do operador, o projeto apresenta um conjunto de estudos empíricos situados na literatura de estudos urbanos e migratórios (ver Ringel, 2023; Anderson, 2023; Lems, 2023; Dahinden, 2023; Ellis, 2023; Cresswell, 2023; Schiller, 2023; Salazar, 2023). Embora alguns estudos de caso tomem direções diferentes (Slape et al., 2023, p. 571), eles criticam o sedentarismo e o nacionalismo metodológico, que, por um lado, naturaliza e reifica o espaço e, por outro, tende a enquadrar o fenômeno do migrante como problema social a nível do estado-nação ao invés de problematizar a própria construção social do migrante (Slape et al., 2023, pp. 569-570).
Esses estudos demonstraram algumas vantagens do uso de lugar para a pesquisa social. Em primeiro lugar, e dialogando com Massey (1995), o lugar se torna menos um espaço material abstrato, e mais uma composição geométrica de poder, onde diferentes escalas, corpos e representações se confundem (Massey, 1995, p. 186). Tal argumento, como aponta Candice Vidal e Souza (2023, p. 225), vai de encontro com o antropólogo Tim Ingold ao vincular o espaço à dimensão da experiência. Assim, lugar se torna uma construção contínua por meio de práticas sociais, e não possuiria essência definida. Ao adicionar o verniz sociológico das mobilidades, Adey (2017) aponta que as mobilidades são movimentos dotados de sentido, que constroem o espaço ao seu redor. Para Salazar (2023), “as mobilidades são sempre localizadas (emplaced)”.
Se tomarmos o Nexus como lugar, podemos tomar nota que não se trata somente de um espaço para o acesso à infraestrutura de internet de alta velocidade ou de instalações de trabalho em grupo (coworking), mas ele é afetado pelas práticas cotidianas de diferentes agentes sociais. De cartões de visita espalhados em pontos estratégicos por mesas de trabalho a frases motivacionais em paredes do Nexus (Figura 1), esses e tantos outros elementos carregam consigo significados que guiam a prática social de empreendedores e, por essa razão, merecem a atenção da pessoa socióloga, pois “discursos localmente situados contribuem [a entender] como lugares são feitos, performados, transformados e apropriados” (Slape et al., 2023, p. 569).
Figura 1. Lousa de entrada do espaço da aceleradora Nexus
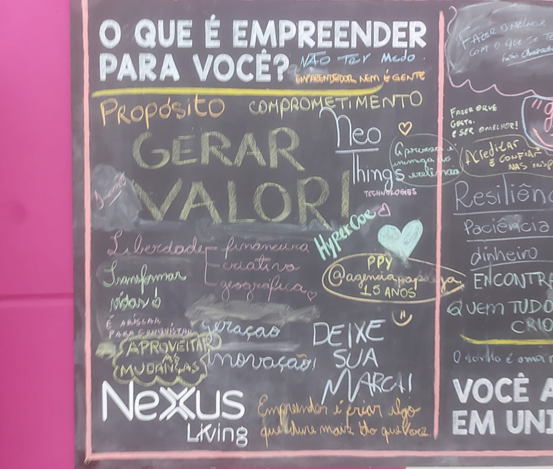
Fonte: Elaboração própria (maio de 2024)
Outro ganho analítico de se pensar em lugar é observar várias populações ao invés de enviesar "o olhar de sociólogo" para um grupo específico. O caráter relacional da ideia de lugar acarreta no exercício de não olhar apenas para o grupo e a relação entre eles, nem apenas do grupo com seu entorno, mas de um conjunto amplo de relações que, de uma forma ou de outra, atravessam aquele lugar (Slape et al., 2023, p. 570). No caso de Slape e coautores (2023), isso significa deslocar o olhar dos grupos migrantes para a migrantização enquanto processo social. Neste sentido, a metáfora da rede – que acompanhou John Urry (2013 [2000]; 2012) ao longo de sua trajetória – se espacializa. Isto é, o sociólogo, ao olhar para o lugar, reconstrói a rede de interdependências de seres humanos e não-humanos, materialidades e representações que são postas em conjunto, interagindo ou se relacionando, para realizar certas práticas sociais em dado tempo e espaço (Knowles, 2010; Slape et al., 2023, p. 569). Se o programa de aceleração Nexus é visto como lugar, isso significa entendê-lo como um espaço dotado de sentido onde diferentes entidades sociais são postas em relação para realizar certas práticas sociais – como, no caso da pesquisa em andamento, a prática de networking. A sociologia não olharia apenas para aqueles que são rotulados como empreendedores, mas para as relações que são ali constituídas para observar como essas práticas de networking são condicionadas por outros agentes sociais, nem sempre vistos de antemão, como infraestruturas, assessores, secretários, dentre outros.
Tais relações nem sempre serão simétricas. Aqui, é possível traçar paralelos entre a noção de lugar e a de ancoradouro (Freire-Medeiros, 2022; Freire-Medeiros, Lages, 2020). Como uma lente analítica, a ideia de ancoradouro é o mirante onde o sociólogo poderia “cartografar atentamente a disposição espacial das embarcações, as co-presenças e as exclusões, buscando identificar as correntezas correspondentes, com suas viabilidades, acessos e riscos” (Freire-Medeiros, 2022, p. 22). Ambos ressaltam, neste sentido, o papel de regimes de mobilidades locais e várias políticas de mobilidade na produção de iniquidades sociais (Slape et al., 2023, pp. 570-571; Freire-Medeiros, 2024).
Ademais, o que a sociologia das mobilidades aponta, na sua interface com a sociologia dos mercados e do trabalho, é que o analista social deve se atentar para o que acontece nas dobras do formal–informal e do legal–ilegal (Telles, 2006). Ou seja, a que tipo de relações sociais nessas dobras tais empreendedores recorrem para garantir o “sucesso” de sua start-up (Larsen; Urry; Axhausen, 2006)? Como Slape e seus colaboradores (2023) afirmam, a pergunta, do ponto de vista teórico, passa a ser: “como regimes de mobilidades locais contribuem para como diferentes formas de movimentos… se tornam situados em locais particulares e simultaneamente em relações multiescalares entre vários atores com diferentes graus de poder?” (Slape et al., 2023, p. 571).
2.2 Regimes, temporalidades e imaginações no Nexus
As linhas de força que orientam a constituição do lugar são resumidas pelos autores do artigo como regimes, temporalidades e imaginações. Vejamos como cada uma delas se articula com o estudo em andamento.
A noção de regime está intimamente relacionada à constelação conceitual foucaultiano, como governamentalidade, que significa o processo de tradução de relações de poder em mecanismos de assujeitamento e subjetivação (Foucault, 2008 [1978], pp. 143-144). Esses mecanismos operam em territórios, cujas fronteiras foram igualadas pela literatura à escala dos estados-nacionais. Contra esse nacionalismo metodológico, os integrantes do projeto de pesquisa Slape e colaboradores propõem à pessoa pesquisadora que ajuste as lentes para prestar atenção a outras escalas de regimes, em especial, de regimes de mobilidades – localmente situados – entendidos como “todos aqueles mecanismos que diferenciam mobilidades em categorias e hierarquias baseadas em múltiplos eixos de diferenciação, que posiciona atores em uma hierarquia particular” (Slape et al., 2023, p. 572). Eles podem ser estruturas de poder, enquadramentos legais em várias escalas e jurisdições, discursos políticos e interesses econômicos, formados pelas circunstâncias históricas (Slape et al., 2023, p. 573).
O Nexus – e estendemos também para o Parque de Inovação Tecnológico – tem uma importante tarefa de acolher comitivas de “turismo científico” de diferentes localidades, de cidades vizinhas a comitivas transnacionais de big techs. Para todo esse movimento acontecer, isso requer recursos financeiros de grupos empresariais locais (interesses econômicos), negociações políticas dos governos estadual e municipal (enquadramentos legais multiescalares e discursos políticos) e uma posição no circuito de consagração de ciência e tecnologia (que envolvem outras estruturas de poder). Na incursão etnográfica em maio de 2024 em um evento de negócios, ciência e tecnologia, o credenciamento já categorizava as instituições às quais aquela pessoa se associa. O networking pode variar se uma das partes é de uma instituição estrangeira ou nacional – muitas vezes, favorável ao agente nacional, dada a posição de empresas como Embraer, por exemplo, em todo o circuito transnacional de consagração do setor aeronáutico.
Além disso, se o espaço deixa de ser algo abstrato e unitário com o operador de lugar – pois ele seria relacional e dotado de sentido –, isso implica na coexistência de várias temporalidades, uma dimensão cara aos empreendedores do setor tecnológico e que precisam lidar com inovação (Stark, 2009). As temporalidades permitem desvendar as dinâmicas de sincronização e dessincronização, os ritmos de mobilidades, negociações da experiência de mobilidade, multiescalaridade, dentre outros (Slape et al., 2023, pp. 573-574). Quem é aquele cujo movimento acelerado é capaz de diminuir a velocidade do movimento alheio em mercados de alta tecnologia? Quem precisa parar de se mover para fazer outra pessoa entrar em movimento – traduzindo na pesquisa em andamento por meio dos laços fortes que compõem as redes pessoais de empreendedores enquanto estes podem viajar para eventos de tecnologia?
Por fim, a reflexão cara aos estudos migratórios sobre expectativas e imaginários dão importantes contribuições à sociologia do empreendedorismo a qual este estudo de mestrado em andamento dialoga. A imaginação pode ser entendida como “o processo dinâmico através do qual pessoas e grupos expandem sua experiência situada e presente ao explorar possibilidades passadas, alternativas e futuras” (Slape et al., 2023, p. 574). O empreendedor, assim como a pessoa ‘migrantizada’, imagina futuros que dão pistas sobre as razões e as maneiras como ele se move (Slape et al., 2023, p. 574). Esses futuros imaginados emergem do lugar onde esses agentes sociais se situam, como é o caso do Nexus. Na pesquisa empírica, isso se traduz em desvendar quem são “os grupos de referência” (Merton, 1968) dessas pessoas e como elas se vêem no futuro próximo.
Referências complementares
ADEY, Peter. Mobility. 2 ed. Londres e Nova Iorque: Routledge, 2017.
ANDERSON, Bridget. Integration: a tale of two communities. Mobilities, v. 18, n. 4, 606 619, 2023.
CRESSWELL, Tim. The rhythm of place and the place of rhythm: arguments of idiorhythmy. Mobilities, v. 18, n. 4, 666-676, 2023.
DAHINDEN, Janine et al. Placing regimes of mobilities beyond state-centred perspectives and international mobility: the case of marketplaces. Mobilities, v. 18, n. 4, 635–650, 2023.
ELFRING, Tom et al. Entrepreneurship as Networking: Mechanisms, Dynamics, Practices, and Strategies. Nova Iorque: Oxford University Press, 2021.
ELLIS, Basia. Fostering existential well-being: mobility, dwelling, and Undocumented Student Resource Centers in California. Mobilities, v. 18, n. 4, 651-665, 2023.
FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população. São Paulo, Martins Fontes, 2008.
FREIRE-MEDEIROS, Bianca. “A aventura de uns é a miséria de outros”: mobilidades socioespaciais e pobreza turística. São Paulo, Tese de livre-docência em Sociologia das Mobilidades, Universidade de São Paulo, 2022.
FREIRE-MEDEIROS, Bianca. A metrópole do capital de rede: mobilidades socioespaciais e iniquidades urbanas. Cadernos Metrópole, v. 26 n. 60, 2024.
FREIRE-MEDEIROS, Bianca; LAGES, Mauricio. A virada das mobilidades: fluxos, fixos e fricções. Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 123, 2020.
KNOWLES, Caroline. Mobile sociology. British Journal of Sociology, v. 61, n. s1, 2010.
LARSEN, Jonas; URRY, John; AXHAUSEN, Kay. Geographies of Social Networks: Meetings, Travel and Communications. Mobilities, v. 1, n. 2, 261-283, 2006.
LEMS, Annika. Anti-mobile placemaking in a mobile world: rethinking the entanglements of place: im/imbolity and belonging. Mobilities, v. 18, n. 4, 620–634, 2023.MAIA, Marcel. Jovem firma procura investidor: Como as Aceleradoras Promovem Encontros e Moldam Startups. São Paulo, Tese de doutorado em Sociologia, Universidade de São Paulo, 2024;
MASSEY, Doreen. Spatial Divisions of Labour: Social Structures and the Geography of Production. Londres: Red Globe Press, 1995.
MERTON, Robert K. Sociologia: Teoria e Estrutura. São Paulo: Mestre Jou, 1970
RINGER, Felix. Beyond outmigration: Im/mobilities and futures in peripheral postindustrial cities. Mobilities, v. 18, n. 4, 593–605, 2023.
SALAZAR, Noel. Mobile places and emplaced mobilities: problematizing the place- mobility nexus. Mobilities, v. 18, n. 4, 582–592, 2023.
SCHILLER, Nina. Connecting place and placing power: a multiscalar approach to mobilities, migrant services and the migration industry. Mobilities, v. 18, n. 4, 677-690, 2023.
STARK, David. The sense of dissonance: Accounts of worth in economic life. Princeton: Princeton University Press, 2009.
TELLES, Vera. Trajetórias urbanas: fios de uma descrição da cidade. In: TELLES, Vera; CABANES, Robert (orgs.). Nas tramas da cidade: trajetórias urbanas e seus territórios. São Paulo: Editora Humanitas, 2006.
URRY, John. Social networks, mobile lives and social inequalities. Journal of Transport Geography, v. 21, n. C, 2012.
URRY, John. Sociologia móvel. In: LIMA, Jacob (org.). Outras sociologias do trabalho: Flexibilidade, emoções e mobilidades. São Carlos: EdUFSCAR, 2013 [2000].
VIDAL E SOUZA, Candice. Mobilidade e cidade: epistemologia e pesquisa. Tempo Social, São Paulo, v. 35, n. 1, 2023.
Trajetórias urbanas: fios de uma descrição da cidade
Telles, V. da S. (2006). Trajetórias urbanas: fios de uma descrição da cidade. In Nas tramas da cidade: trajetórias urbanas e seus territórios. São Paulo: Humanitas.
Vinícius de Souza Mendes
Doutorando do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP). E-mail: vinicius.mendes@alumni.usp.br
Contextualização
O percurso intelectual de Vera Telles é marcado por atravessamentos. Sua dissertação de Mestrado, em diálogo com sua atuação no movimento sindical do ABC Paulista, no fim da década de 1970, articulou percepções sociológicas relevantes sobre as mobilizações populares, os movimentos sociais e aquele período ainda de ditadura militar. Já sua tese de Doutorado, defendida nos anos 1990 reuniu, da mesma forma, uma série de questões ainda em aberto na sociologia brasileira, como classes populares, pobreza e a inevitável “questão do trabalho”, com a figura do “trabalhador” em primeiro plano. Sob o prisma do presente, porém, é interessante notar como a tese já tem, no título, a palavra “urbano” – dos anos 2000 em diante, Telles se debruçou para sempre sobre essas relações tecidas nos espaços, como gosta de dizer, da cidade.
É de lá para cá que se situam boa parte dos textos mais conhecidos hoje, articulando questões que permanecem centrais à sociologia, como os impactos urbanos da reestruturação produtiva local e global, as reorganizações sociais e, principalmente, as dinâmicas macro e micro (ou “microcenas”, como ela escreve) da cidade vistas a partir dos próprios dilemas dos seus sujeitos.
Talvez o resultado mais bem acabado de toda essa reflexão seja, justamente, o livro Nas Tramas da cidade, publicado em 2006 pela Humanitas e organizado em parceria com o sociólogo Robert Cabanes, então diretor do Institut de Recherche pour le Développement (IRD), um dos principais centros de pesquisa da França, país com o qual Vera Telles tem uma relação intrínseca. É curioso que quase todos os textos do livro são assinados pela própria Telles ou dela com outros pesquisadores, baseados em um estudo qualitativo de longa duração que ela empreendeu com centenas de famílias das zonas Sul e Leste de São Paulo, como, por exemplo, Trajetórias urbanas: fios de uma descrição da cidade – que, como se verá a seguir, mistura um certo caráter teórico-metodológico com uma rica descrição de campo.
Além dela, aparecem no livro ainda autores como Daniel Hirata, hoje especialista em segurança pública e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), no Rio de Janeiro, e José César de Magalhães Jr., então orientando de Telles e que, hoje, é professor das Faculdades de Campinas (FACAMP).
Desde aquele período, Vera também é professora do Departamento de Sociologia da FFLCH-USP.
Objeto e enfoque
O mais óbvio seria dizer que o objeto de pesquisa de Telles, no texto selecionado, é a cidade – e que seu enfoque está na forma como ela é experimentada a partir de lógicas que só parecem superficialmente contrapostas, como os conflitos e os acordos, os percursos e os entraves, as legalidades e ilegalidades.
As “tramas”, que estão no título e aparecem aqui e acolá ao longo do artigo, são mais do que uma palavra capaz de condensar tudo, mas, na minha leitura, um primeiro conceito que ajuda a ver sociologicamente como a cidade é, antes de um lugar, uma imensa cadeia de acontecimentos, práticas, histórias, que vão do individual ao social e, assim, constituem verdadeiramente o “urbano”. É o que permite à autora fazer uma ruptura, por exemplo, com a literatura tradicional em observar como um conjunto mais ou menos articulado, mas ainda assim, separado, de diferentes realidades, como a riqueza e a pobreza, a distância e a proximidade do “centro” (p. 71). No novo sentido dado por ela, tudo depende da forma como os sujeitos articulam histórias e percursos. É sintomático que muitos trabalhos posteriores, como o de Segura (2014), por exemplo, tenham ido na mesma direção, mesmo em contextos diferentes do paulistano.
Para operacionalizar a forma de observar bem essas tramas, Vera enriquece a sociologia (urbana, mas também a disciplina em si) com uma série de outros conceitos fundamentais para compreender – ou ao mesmo colocar em relação – o que é a cidade. É o caso, por exemplo, do atravessamento entre tempos biográficos, alçados para descrever trajetórias e histórias de vida dos sujeitos, e como eles vão compondo diferentes apreensões e experiências da cidade ou de partes dela, e tempos sociais, cujas lógicas estão muito mais entremeadas às grandes mudanças das quais o urbano é palco e ator. Ambos os tempos ficam mais evidentes quando a autora traz ao texto os interlocutores daquele passado que ela viveu, nos anos 1970, quando São Paulo era marcada pela narrativa do “progresso”, e os contrapõe aos jovens das duas décadas seguintes, quando a metrópole era o reflexo de um certo fracasso daquele projeto.
O importante é que o resultado disso são, do ponto de vista teórico, eventos sociais de diferentes tonalidades: os conflitos, as tensões, os bloqueios (ou fricções, no paradigma das mobilidades), as possibilidades, que alargam, de alguma forma, a ideia de fluxos, e toda uma miríade de processos que “modulam” a vida urbana (p. 74). Não seria uma nova forma de adentrar na velha dicotomia sociológica entre agência e estrutura, mas pelo prisma da cidade?
Para além dos novos conceitos, Telles recodifica outros já existentes – como consequência inevitável. É o caso de território, por exemplo, que foge à concepção rígida que permeou boa parte da literatura sociológica de um passado não tão distante, e que no texto aparece, de forma interessantíssima, como um resultado dos percursos. É neles que toda sorte do social acontece, já que é realizando-os que os “indivíduos e famílias” (p. 71) não só agem efetivamente como se deparam como seus “bloqueios e possibilidades” (idem). O conjunto de percursos é que constitui o território – e, então, não há território de antemão, mas um dado da realidade que só pode ser apreendido pelas lentes de cada pesquisa. Central para entender território é se distanciar das lógicas geográficas de proximidades e distâncias, pensando-o antes como constituições feitas pelos agenciamentos. Ou, em outras palavras, pelos tempos que elaboram a cidade, repletos de práticas, histórias, fricções e fluxos. Eis, então, o próprio social.
O conceito recodificado de território ainda serve aos propósitos da pesquisa de situar os acontecimentos em um espaço, onde esses tempos se cruzam o tempo todo. Por essa ótica, cada estudo é, antes de tudo, um momento do território, nunca sua descrição definitiva. Não só: ao situá-los, Telles também permite, metodologicamente, uma comparação entre eles (p. 73), à medida em que os diferentes territórios são palco de “diferentes situações” (idem). Então, “é no confronto entre as diversas situações que, tal como num prisma, a cidade vai se perfilando nos seus focos de tensão, nos seus campos problemáticos”.
E como os percursos produzem espaços e territórios? Para Telles, de três formas, pelo menos: pelas disputas, materializadas, no texto, pelas ocupações de pedaços vazios de terra urbana – e que, nos tempos biográficos, são registrados pelas famílias e indivíduos que vivem em uma cidade marcada pela adensamento das periferias e pela intensificação da “questão da moradia”, enquanto, nos tempos sociais, dizem respeito às reestruturações produtivas; pelas temporalidades, que são ressignificadas à medida em que o mapa urbano vai sendo refeito, seguindo novas tendências dos mercados, do consumo, das políticas e das demandas sociais; e pelo tempo político, à medida em que um conjunto de atores articulam práticas que, no final, desaguam em (in)ações das esferas políticas, seja o Estado ou associações que rodeiam sua atuação.
Orientação à pesquisa
Uma miríade de elementos do texto de Vera Telles persiste fundamentais à minha pesquisa sobre as festas bolivianas em São Paulo.
Um deles é a afirmação balizar do artigo de que “espaço e tempo estão imbricados em cada evento de mobilidade”, que, por sua vez, é uma citação de um livro do sociólogo Alain Tarrius, bastante trabalhado em pesquisas sobre migrações. É interessante que, possivelmente, a perspectiva do autor original esteja mais vinculada à ideia clássica de territórios circulatórios, de forma a perceber como o movimento dos sujeitos atravessa certos espaços sem necessariamente permanecer neles por longos períodos. Um dos orientados de Telles, Tiago Cortês, se vale desse conceito para analisar as próprias oficinas de costura paulistana, cujos trabalhadores precários são agenciados na Bolívia, como territórios circulatórios, por exemplo.
Para minha pesquisa, porém, essa afirmação é valiosa por outra lógica, em que aparece invertida: é que, para mim, cada evento de mobilidade tem seu próprio espaço e tempo. Isso fica evidente ao notar como as fraternidades – e as festas – bolivianas em São Paulo elaboram calendários festivos que se prolongam no tempo por uma série de motivações e que, por consequência disso, precisam também se prolongar no espaço. Na minha pesquisa de Mestrado, eu explorei, principalmente, as motivações religiosas desses “ciclos” – e, no atual processo de doutoramento, meu foco tem sido sobre como eles também são informados por demandas econômicas, materializados por movimentos vários (de objetos, de dinheiro, de narrativas políticas) que dependem de atores com capital de rede acumulado para fazê-los se mover. Fato é que, nesse processo, a cidade dos bolivianos se amplia – ou, se valendo do arcabouço conceitual de Telles, as possibilidades se alargam, os percursos se reconstituem, os tempos biográficos se encontram momentaneamente com os tempos sociais.
Essa é, aliás, outra contribuição importante do artigo da autora para minha pesquisa, já que, até então, eu raramente havia encontrado um escopo teórico que desse conta dos padrões de mobilidades geracionais dos bolivianos em São Paulo, vistos sob o prisma da festa. Algumas conclusões iniciais me permitem ver como aqueles sujeitos que fizeram parte do primeiro grande fluxo migratório da Bolívia em direção à cidade, nos anos 2000, e que hoje engrossam as fileiras de fraternidades de danças pesadas, como as morenadas, porque reúnem capital econômico para tal, tendem a circular pelos mesmos espaços já mapeados pelas suas lógicas imanentes do trabalho, como o bairro do Brás, por exemplo. É como se suas tramas sociais fossem significativamente territorialmente situadas. Seus filhos – que a literatura chama (problemática) de “segunda geração de migrantes” – se movimentam pelo mapa urbano com menos fricções, o que alguns autores explicam pelo simples fato de serem “brasileiros” e, portanto, saberem manejar símbolos nacionais, estarem inseridos em linguagens próprias da juventude e, principalmente, dominar o idioma local, não dos pais. Fato é que elas dançam em suas próprias fraternidades (as de caporal, por exemplo) e estão sempre presentes em festivais interculturais organizados fora da “comunidade”, onde qualquer pessoa que não seja boliviana é vista como “turista”.
O conceito de tempo biográfico permite ilustrar esse fenômeno como nenhum outro: não só por colocá-lo em seus próprios termos, levando em consideração como os sujeitos, em suas particularidades, constituem também o que a cidade é, mas principalmente por permitir uma elaboração sociológica da experiência urbana a partir das trajetórias e histórias de vida. O interessante aqui é que o tempo biográfico é individual, mas também social, à medida em que esses tempos são compartilhados. Não é trivial que um conjunto muito semelhante de atores, tais como os morenos das fraternidades, tenham padrões de circulação por São Paulo também muito parecidos: eles compartilham seus tempos biográficos, já que migraram juntos, têm as mesmas ambições, lidam com dilemas semelhantes e, acima de tudo, possuem um referente nacional compartilhado. Acontece o mesmo com seus filhos e filhas, mas em outras lógicas. No meio dessa diferença geracional estão os tempos sociais da metrópole, atravessados por uma série de transformações que impactaram significativamente na maneira como os migrantes, tais como os bolivianos, experimentam a cidade: seja pelo aprofundamento da precariedade do trabalho na indústria têxtil (Tavares, 2012), seja pela recém-expansão do comércio informal de roupas no Brás, que colocou esses sujeitos também como negociantes momentâneos, seja pelas políticas de reconhecimento ou pela articulação de associações bolivianas com as autoridades municipais, cujo resultado mais impressionante é a organização da festa anual de comemoração da Independência da Bolívia que, em 2023, aconteceu na Praça dos Expedicionários, em Santana, na Zona Norte, e que neste ano será no Sambódromo do Anhembi.
Por fim, o conceito telleniano de território. Se está situado no espaço, em uma estratégia metodológica para capturar o simultâneo, ele também é conformado por “relações de proximidade” que não se sujeitam ao arcabouço geográfico. Dito de outras palavras, o território é um lugar concreto, mas também abstrato, onde as relações se tecem (multi)situadas. É uma forma interessante de observar a dinâmica das festas bolivianas. De um lado, elas tendem a acontecer em um conjunto não muito grande de locais da cidade, como salões de eventos, praças públicas, galpões privados ou até mesmo lugares construídos apenas para o festivo, como o recém-inaugurado Salón Copacabana, na Zona Norte. De outro, elas circulam pela cidade sempre procurando novos territórios que as recebam, não só por demandas materiais (número de participantes), mas também por simbólicas. É assim que a organização da festa de agosto, chamada de Fe y Cultura, de 2024, que acontecerá no Sambódromo, tem sido narrada pelos bolivianos em São Paulo com expressões como “sonho realizado”. Esse sonho, aliás, não seria a confluência definitiva do tempo biográfico e do tempo social?
Moviendo los estudios urbanos. La movilidad como objeto de estudio o como enfoque para comprender la ciudad
Jirón Martínez, P. y Imilan Ojeda, W. (2018-12-01).Moviendo los estudios urbanos. La movilidad como objeto de estudio o como enfoque para comprender la ciudad contemporánea. Disponible en https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/153116
Vinícius de Souza Mendes
Doutorando do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP). E-mail: vinicius.mendes@alumni.usp.br
Contextualização
Quando Paola Jirón foi destacada como presidenta do recém-criado Conselho Nacional de Desenvolvimento Territorial (CNDT) do governo chileno, em setembro de 2023, muitos veículos da imprensa local[1] se atentaram para a renomada carreira acadêmica que ela consolidou nas últimas duas décadas — assim como para a base das suas pesquisas: as mobilidades.
Doutora em Planejamento Urbano e Regional pela prestigiada London School of Economics and Political Science (LSE), na Inglaterra, ela dirige, desde sua fundação, o importante Núcleo Milenio Movilidades y Territorios (MOVYT), um dos centros de pesquisa mais relevantes sobre mobilidades da América Latina. Além disso, é pesquisadora do Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), na linha de estudo sobre dimensões socioeconômicas do conflito na sociedade chilena, e professora (agora licenciada) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da prestigiada Universidad do Chile.
Vem de Jirón, sobretudo, uma abordagem urbana bastante baseada na experiência concreta dos sujeitos em seus deslocamentos pela cidade — em específico Santiago.
Essa postura metodológica, que estrutura a atuação do MOVYT, também é parte constitutiva do trabalho de Walter Alejandro Imilán, o outro autor do artigo em discussão neste texto.
Doutor em Planejamento Urbano e Regional pela Technische Universität (TU), em Berlim, na Alemanha, e Mestre em Estudos Urbanos pelo Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales da Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos da Pontificia Universidad Católica de Chile, ele tem aliado suas pesquisas às temáticas contemporâneas do Chile: desde o estallido de 2019, que sacudiu as estruturas do país e cujos efeitos se veem até hoje na política institucional chilena, até as novas narrativas Mapuche sobre circulações urbanas em um território que lhes é ancestral[2].
O artigo em discussão neste texto, Moviendo los estudios urbanos. La movilidad como objeto de estudio o como enfoque para comprender la ciudad, foi publicado originalmente em um dossiê sobre mobilidades espaciais nas metrópoles latino-americanas organizado pelas sociólogas Natalia Cosacov e María Mercedes Di Virgilio (Universidad de Buenos Aires-UBA) no décimo número da revista Quid 16[3], sobre estudos urbanos, mantida pelo Instituto de Investigaciones Gino Germani, da UBA. O dossiê possui artigos sobre mobilidades em cidades do México e da Colômbia, além de um texto sobre o uso do automóvel nas metrópoles da região assinado por duas pesquisadoras da Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-MX): Ruth Pérez López e Guénola Capron.
O material ainda traz uma tradução, para o espanhol, do artigo Mobilizing the new mobilities paradigm, de Mimi Sheller e John Urry, publicado originalmente na revista Applied Mobilities[4].
Objeto e enfoque
O texto — como, aliás, costumam ser as análises do MOVYT — se debruça sobre a experiência urbana dos sujeitos. Ela é contraposta a uma observação "de cima", baseada em contagens quantitativas, no sentido técnico, e em pressupostos teórico-metodológicos ancorados na rigidez de fenômenos sociais.
Mais do que isso, essa perspectiva procura agregar aos estudos convencionais uma nova forma de lidar com o conceito de bairro que, na literatura latino-americana, é fundante de várias abordagens urbanas. A própria criação do núcleo tem como postulado estudar de que forma conceitos rígidos, como trabalho, o lazer, o bairro, a rua ou a casa, também podem ser unidades de análise relevantes para uma sociologia móvel. No texto, o "giro da mobilidade" aparece a partir de implicações de ordens "teóricas, metodológicas e práticas" (p. 18).
Se a matéria-prima do texto é a experiência, então o que há de novo é perceber como ela é permeada por uma mobilidade que, longe de ser trivial, define o que é a cidade (latino-americana) contemporânea (p. 19). Isto é, como ela é vivida, produzida e ressignificada pelos atores que se movem. Não só eles: automóveis, dispositivos de transporte, infraestrutura e até políticas do urbano (p. 21) também circulam produzindo os mesmos efeitos.
No texto, essa experiência é abordada a partir da mobilidade. Isso significa, do ponto de vista prático, que os autores pressupõem um cotidiano urbano marcado por atores — e coisas — que se movem, e o fazem pela cidade. Também significa outro pressuposto: que este movimento é, antes de tudo, uma "prática social e cultural" (p. 22) que vai muito além de observar deslocamentos cotidianos, entendendo, antes, o que impacta e o que é impactado nesse processo.
Jirón e Imilán fazem um catálogo amplo de práticas sociais dentro do sistema de transporte público de Santiago que demonstram como esses deslocamentos são também espaços de significação: os sujeitos "negociam", no cotidiano de trens e ônibus da cidade, desde o lugar onde vão viajar dentro dos vagões e automóveis, até como o farão (lendo, ouvindo música, solitários, acompanhados), sem contar os usos momentâneos que fazem desses dispositivos (o metrô como um espaço de trocas ou de solidão). Não só isso, os autores notam como os sujeitos elaboram estratégias para circular pelos modais de transporte disponíveis e, antes disso, para acessá-los, e quais fricções existem a esses acessos.
Mas, para além de objeto, a mobilidade também é abordada como um enfoque, no sentido de compreendê-la como uma forma de habitar onde se amalgamam tanto espaços fixos quanto o próprio movimento. Nesse sentido, eles se valem de outro conceito fundamental: a interdependência, que explicita como "as decisões, práticas e experiências que dizem respeito aos deslocamentos cotidianos não são estritamente de caráter individual, mas se encontram estritamente entrelaçadas a outras pessoas e suas próprias decisões, práticas e experiências" (p. 28).
Dito de outro jeito, é dizer que, ao focar nas mobilidades, torna-se mais evidente como cada circulação, individualmente, é preenchida não apenas por decisões também individuais, mas antes por um conjunto de outras decisões que, juntas, constituem a metrópole. Esse me parece a principal e mais inovadora estratégia analítica trazida para a literatura de mobilidades.
Aliás, não só circulações, mas também relações, à medida em que as decisões por onde se mover levam em conta uma série de outras estruturas sociais, como o trabalho ou o lazer, por exemplo. Em uma metrópole como Santiago (ou São Paulo, Buenos Aires, Cidade do México, etc.), uma relação nunca é unilateral, mas sempre atravessada pelas outras.
Para Jirón e Imilán, é fundamental compreender, então, a mobilidade como objeto e como enfoque em uma sequência: primeiro, como as pessoas se movem e, segundo, como esse movimento afeta outros campos da vida socia e, como que conformando ambos, a experiência individual situada no coletivo.
Orientação à pesquisa
Essa divisão entre objeto e enfoque abre caminho para algumas questões metodológicas que ainda permanecem em aberto na minha pesquisa sobre festas bolivianas em São Paulo.
Uma delas, que já tem sido trabalhada por outros autores[5] em outras escalas, está na ideia de interdependência. Como venho defendendo há algum tempo[6], há uma espécie de dobradura entre o tempo do lazer e o tempo do trabalho que se constitui nas festividades bolivianas na cidade, à medida em que, para que possam dançar nas fraternidades, os sujeitos precisam investir recursos próprios na aquisição de trajes ou produzi-las por conta própria e, além disso, reunir tempo para participar de ensaios e eventos onde se apresentam.
Nesse sentido, a análise de Jirón e Imilán permite destravar uma percepção distinta sobre como essas circulações não acontecem isoladas, mas são antes impactadas (e impactam) por redes diversas: desde as oficinas de costura, com suas sazonalidades, padrões e estratégias, até nas tarefas do âmbito domiciliar.
Além disso, as próprias festas bolivianas fazem parte de um ciclo festivo que, para se materializar, depende do funcionamento de uma rede interdependente por si só, em que as relações – como dizem os autores – nunca são unilaterais, porque afetam lógicas produtivas inteiras, no sentido mais amplo, e práticas do cotidiano, em uma lente mais precisa.
Assim, para que um fraterno de uma fraternidade possa produzir a sua roupa para uma festa – ou para que reúna recursos para comprá-la de um produtor externo –, ele precisa trabalhar fora do horário estabelecido de sua jornada laboral. Essa decisão implica não apenas efeitos sobre as peças elaboradas pela oficina como um todo, mas também da própria circulação do objeto (roupa) que ele produziu, sem contar os impactos domésticos, como cuidados com os filhos, por exemplo.
Mas não só: o texto de Jirón e Imilán também fornece ferramentas metodológicas para explorar outro fenômeno que permanece intrigante dentro do meu escopo de pesquisa: muitas pessoas chamadas pela literatura de “migrantes de primeira geração”, que chegaram ao Brasil no começo dos anos 2000, conformam hoje um grupo relativamente estável, do ponto de vista econômico. São famílias que conseguiram construir algum patrimônio – e que o expressam socialmente por meio das próprias festas e das fraternidades que pertencem. Supunha-se que, por isso mesmo, que eles tinham uma circulação mais fluída pela cidade, tanto pelos recursos que possuem quanto pelo tempo que vivem na cidade. Uma leitura inicial sugeriria que haveria menos fricções do que fluxos.
O contraponto disso seriam as pessoas mais jovens, recém-chegadas da Bolívia que, sem recursos e com jornadas maiores de trabalho nas oficinas, teriam uma experiência mais estática do que móvel pelo mapa urbano.
Parte dessa hipótese se confirma: a tendência é que, quanto mais recente tenha sido a chegada a São Paulo, menor seja a capacidade de se movimentar pelo mapa urbano – tanto subjetivamente, no sentido de perceber as fricções, quanto no sentido de “saber viajar” (p. 25) pelo sistema de transporte.
No entanto, parte dela não se observa, porque, ao seguir esses sujeitos, nota-se que os “migrantes” de primeira geração, embora com mais recursos, possuem os mesmos padrões de movimento que os recém-chegados: isto é, circulam por uma área muito pequena da cidade (em bairros como Pari, Canindé e Brás), marcada por uma presença intensa de bolivianos e, por consequência, de suas práticas e dispositivos.
Uma possível resposta para isso está, justamente, na maneira como Jirón e Imilán alçam a mobilidade como um enfoque pela experiência, em que os trajetos são antecipados por estratégias. Assim, as “decisões de mobilidade das pessoas são individuais e racionais em termos de tempo/custo” (p. 32), mas também em termos das demandas cotidianas que elas possuem. Entao, as circulações se assemelham porque, no limite, tanto os recém-chegados quanto os mais velhos encontram tudo o que precisam em lugares parecidos – como a Rua Coimbra, no Brás, sobretudo. É racional que eles elaborem estratégias que permeiem um espaço já habitado: uma forma de enfocar não só a mobilidade, mas também no que não necessariamente se move.
[1] CNDT, 09/11/2023. ¿Quién es Paola Jirón? La nueva presidenta del recién creado Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (https://cndu.gob.cl/quien-es-paola-jiron-la-nueva-presidenta-del-recien-creado-consejo-nacional-de-desarrollo-territorial/). Acessado em 5 de abril de 2024
[2] GONÇALVES, D.; MENDES, V. “É a mobilidade, estúpido”: uma entrevista com Walter Imilán. UNICAMP: Revista de Estudos Indígenas, v.7 (2024) [NO PRELO]
[3] Quid 16, Movilidades espaciales de la población y dinámicas metropolitanas en ciudades latinoamericanas, n. 10 (2018)
[4] SHELLER, M.; URRY, J. Mobilizing the new mobilities paradigm. Applied Mobilities, v. 1 (2016), p. 10-25
[5] ÁVILA, L. No llores, prenda, pronto volveré. Migración, movilidad social, herida familiar y desarrollo. La Paz: Institut Français d’Études Andines, 2004
[6] MENDES, V. Territorios y mercados entre las fraternidades folklóricas bolivianas en São Paulo. Arxius de Ciències Socials, n. 47 (2023), p. 1-15
Multiscalar city-making and emplacement
Çağlar, Ayşe & Glick Schiller, Nina (2018) Migrants and City-Making. Dispossession, Displacement, and Urban Regeneration, Durham and London: Duke University Press.
Luma Mundin Costa
Mestranda no Programa de Pós-Graduação de Sociologia da USP. E-mail: lumamundin@usp.br
Em 2018, a antropóloga Ayşe Çağlar, professora do departamento de Social and cultural anthropology da Universidade de Viena, e a antropóloga Nina Glick Schiller, professora do Cosmopolitan cultural institute da Universidade de Manchester, publicaram um livro resultante de uma pesquisa comparativa de longo prazo sobre migração e regeneração urbana nas cidades médias Mardin (Turquia), Manchester (Estados Unidos) e Halle (Alemanha).
O livro Migrants and City-Making: Dispossession, Displacement, and Urban Regeneration é composto por cinco capítulos além da introdução e da conclusão. A introdução, parte do livro que será aqui analisada, intitulada Multiscalar city-making and emplacement, discute os conceitos e métodos que norteiam a pesquisa e a análise dos resultados. Delineia-se, na parte introdutória do livro, o objetivo que percorrem: explorar a relação entre os projetos de regeneração urbana com diferentes níveis de poder político, econômico e cultural e o cotidiano e práticas de cidadania social nas “cidades desempoderadas”. O que as antropólogas denominam de cidades desempoderadas representam aquelas que “responderam às pressões da reestruturação urbana neoliberal, mas entraram na competição com uma determinada configuração de ativos limitados” (CAGLAR; GLICK SCHILLER, 2018, p. 13, tradução livre).
Nesse sentido, ainda mais por se tratar de uma pesquisa de longo prazo (2000-2016), o cenário sob o qual o fazer-cidade é analisado tem extrema importância. As autoras situam as políticas de regeneração e renovação urbana a partir da economia global neoliberal – uma economia que estabelece laços em diferentes escalas, inclusive as transnacionais, e privilegia a cidade como os espaços de desenvolvimento. Essa visão da cidade, nesse contexto global, produziu discursos de cidades como soluções e metrópoles como produtoras de riquezas e formas revolucionárias de governança que ditaram tendencias de urbanização. Para analisar os projetos replicáveis de renovação atrativos para os líderes políticos urbanos, o texto faz uma revisita aos estudos críticos de políticas. Faz-se menção aos autores clássicos da mobilidade de políticas – Peck, Theodore, Gonzalez, entre outros – que fizeram importantes contribuições sobre as cidades e as formulações de políticas urbanas em contextos que envolvem a ativação de redes em diferentes escalas. Escalas essas que não são analisadas de forma fixa e progressiva, que considera o bairro, a cidade, o estado e, por fim, o Estado-nação hierarquicamente.
Com esse posicionamento, as autoras diferenciam sua abordagem em relação a certas metodologias, especialmente o nacionalismo metodológico. Essa metodologia dispõe uma lente intelectual que define o conceito de sociedade a partir das fronteiras do Estado-nação. Para as autoras, essa noção leva a limitadas interpretações sobre as relações sociais, e é possível aproximar sua crítica com o que John Urry (2007), no seu artigo Sociologia Móvel, nos aponta sobre uma sociologia sedentária que propagava a ideia de que as relações sociais mais relevantes para a disciplina eram circunscritas dentro de limites territoriais nacionais. Fica especialmente evidente, ao abordar contextos migratórios, que o nacionalismo metodológico supõe que haja uma coesão social dada por uma cultura homogênea e por uma solidariedade própria entre os “nativos”. Assim, formam-se “lentes étnicas” que guiam as análises para dualidades entre “migrantes” e “não-migrantes”, considerando os primeiros como isolados da sociedade. Enfrentando as dicotomias que essa metodologia estabelece, as autoras compreendem migrantes como “atores sociais que são parte integrante do fazer-cidade, pois participam da vida cotidiana das cidades de diferentes e variadas formas” (CAGLAR; GLICK SCHILLER, 2018, p. 5, tradução livre).
A proposta de Ayse e Glick Shiller, então, é trabalhar via uma análise multiescalar (multiscalar analysis) que compreenda os atores urbanos dentro das diferentes redes de poder. A noção de “escala” explorada na análise das autoras é relacional ao considerar que o local, regional, nacional e global são mutualmente construídos, e que as formas de poder são múltiplas e espacialmente articuladas. As escalas representam os diferentes alcances que os atores urbanos têm e seu acesso a poder, conectados a redes que promovem controles desiguais de capital. “Escala” se diferencia de “nível”, nesse sentido, porque não entende as hierarquias de forma fixa:
(...) rastreamos os processos sociais à medida que são constituídos, observando suas interconexões por meio de redes institucionalizadas e informais de poder econômico, político e cultural diferenciado (Glick Schiller 2012a, 2015b; Çağlar e Glick Schiller 2011). Usamos o termo “multiescalar” como uma abreviação para falar de esferas socioespaciais de prática constituídas em relação umas às outras e dentro de várias hierarquias de redes de poder (Ibdem, p. 8; tradução livre)
Para examinar os processos sociais da maneira como eles são construídos, as autoras trabalham com variedade de fontes de dados e variedade de técnicas: observação participante etnográfica, entrevistas em profundidade e análises de documentos. Dialogaram com líderes políticos urbanos e membros de organizações da sociedade civil voltadas para minorias e migrantes, o que permitiu vislumbrar qual a narrativa oficial sobre a urbanização e quais os resultados que foram para além dessa narrativa. Conforme descrito na introdução, a análise se guiou, através dessas técnicas, pelas duplas de conceitos-chave displacement e emplacement, e contemporaneidade e conjuntura histórica. Displacement se refere às formas de acumulação de capital através da privação ao acesso das pessoas a vários meios sociais de subsistência e emplacement se refere a agência de pessoas marginalizadas pelas análises teóricas e pelas políticas, nesse caso os migrantes, para construção da vida entre redes multiescalares, incluindo as formas de reivindicação à cidadania social e justiça. As autoras enfatizam a importância de definir a conjuntura contemporânea para compreender as formas de acumulação de capital através de configurações de governança, discursos, identidades, mobilidades e ativismos localizados em períodos e espaços particulares.
Organizo a maneira com a qual esse texto me inspira a encarar meu objeto de pesquisa em três frentes: como analisar a cidade, como analisar as políticas, e como analisar a ligação entre cidade, política e sistema global. O problema de pesquisa delimitado no meu projeto de mestrado é a questão “como best practices se tornaram políticas do urbano para o combate ao coronavírus, especificamente a política de lockdown, no contexto da cidade de São Paulo entre 2020 e 2022?”. Na primeira frente, entendo como relevante para analisar a cidade a noção que as autoras provocam ao longo do texto: a cidade, inserida em uma economia global neoliberal, deve ser lida como um espaço que concentra redes multiescalares. Nesse sentido, a cidade de São Paulo, ainda que seja unidade de estudo, não deve ser unidade de análise, já que as cidades não são espaços autoconstituídos.
O contexto da cidade de São Paulo e seu cotidiano, considerando a visão das autoras, só pode ser compreendido através de uma análise multiescalar que situe os atores urbanos dentro das várias redes de poder que cruzam esse espaço – um equilíbrio entre uma análise estrutural da globalização e do neoliberalismo e uma análise isolada e descritiva da vida cotidiana. Com isso, apesar de as autoras se diferenciarem da etnografia multissituada, por fazerem uma leitura da metodologia com ênfase no movimento do pesquisador e na multiplicidade de locais analisados, entendo as propostas de formas similares já que o próprio George Marcus sugere a etnografia estrategicamente situada e a ênfase de ambas se dá em estabelecer as conexões e traçar uma unidade analítica entre espaços dispersos.
O desafio para os pesquisadores de sociabilidades urbanas é desenvolver uma estrutura analítica que trace conexões entre a forma como os residentes da cidade respondem ao seu acesso diferenciado ao poder, à posição de sua cidade em campos de jogo regionais e globais e às suas relações com a reestruturação e o reposicionamento contínuos dos locais do bairro onde constroem suas vidas (Ibdem, p. 12, tradução livre)
Assim, entende-se que as sociabilidades que emergem na cidade se fazem por meio de e moldadas por essas redes. É importante, assim como as autoras fazem, enquadrar o tipo de cidade analisada em meio as agendas globais – cidade-global, megacidade, cidade desempoderada, metrópole do capital de rede? Determinar em qual dessas chaves analíticas São Paulo se encaixava melhor é a base para entender de que maneira os atores que a compunham acessavam poder nos “jogos regionais e globais”. A partir desse exercício, posso compreender a maneira com a qual a adoção da política de lockdown (uma best practice) como forma de combate ao coronavírus moldou as possibilidades de ação coletiva organizadas pela sociedade civil em torno das crises geradas e agravadas pela pandemia.
Na segunda frente – como analisar a política, o texto me orienta no enfrentamento da adaptação das políticas de circulação global ao contexto paulistano. Tomando como base que nas últimas décadas “há evidências de que os modelos de políticas prescritivas estão circulando com maior velocidade, auxiliados pelas novas tecnologias de comunicação e por um quadro crescente de defensores de políticas cosmopolitas” (PECK; THEODORE, 2010, p. 172), não seria possível analisar as políticas de combate ao coronavírus desconsiderando as recomendações de órgãos internacionais e os múltiplos “casos de sucesso” ou “casos de fracassos” de outras cidades ao redor do mundo que serviam como ferramentas de aprendizagem para formulação de políticas. No entanto, é necessário considerar que as políticas que circulam não são apenas transferidas ou replicadas, esse fluxo não é linear e não leva a necessariamente a uma homogeneidade de governanças sem fronteiras e de um fluxo globalizado de políticas, como Peck e Theodore (2010) argumentam. O que as antropólogas destacam na revisão sobre estudos críticos de políticas é a noção de tradução, que entende que essas políticas, por mais que sejam formuladas para padronização, são organizadas localmente através do entrelaçamento conjuntural do poder diferencial das forças locais e dos atores nacionais e internacionais mais amplos (CAGLAR; GLICK SCHILLER, 2018, p. 7).
Para compreender, portanto, o processo de “tradução” das políticas de resposta ao coronavírus, pretendo entender 1) a conjuntura política de São Paulo nesse contexto de crise – os duelos com o governo federal, os discursos apropriados pelos governos estaduais e municipais que estavam trabalhando em sintonia, o grau de independência que essas esferas tinham uma das outras; e 2) o regime de bem-estar que era mobilizado localmente – tomando a concepção de Razavi (2007) sobre o tema, que considera um sistema de provisão que envolve Estado, mercado, família e comunidade, e vislumbrar em qual a configuração que as políticas de resposta foram assimiladas no contexto analisado. Assim, será possível delinear a base sobre a qual os atores urbanos se envolveram na implementação das políticas de lockdown, sejam os políticos de várias esferas, ou a sociedade civil (considerada aqui como a quarta ponta do regime de bem-estar, parte da “comunidade”).
Por fim, na terceira frente, me inspiro com essa produção para entender de que forma estão conectados o cotidiano e o sistema global. O elo entre a cidade e as políticas que circulam globalmente pode ser lido através das noções de cidadania e fazer-cidade. No estudo de Ayse e Glick Shiller, dá-se um foco à agência dos migrantes na urbanização neoliberal, entendendo como as práticas de displacement e emplacement constroem sociabilidades na cidade e promovem novas formas de ação política que buscam cidadania social (2018, p. 13). Assim, inspirada também nas ideias de cidadania infraestrutural desenvolvidas por Mimi Sheller (2023) – em que a busca por direitos sociais se dá por meios alternativos de criação de infraestrutura, por vezes improvisados, em contexto de negligência estatal e marginalização – procurarei analisar de que maneira as ações de solidariedade durante a pandemia foram uma maneira de fazer-cidade e prover infraestruturas em favor e a partir de sujeitos marginalizados na urbanização, como partes fundamentais da adaptação das políticas de resposta a pandemia que circularam globalmente.
Referências bibliográficas:
CAGLAR, A. S.; GLICK SCHILLER, N. Migrants & city-making: dispossession, displacement, and urban regeneration. Durham, NC London: Duke University Press, 2018.
PECK, J.; THEODORE, N. Mobilizing policy: Models, methods, and mutations. Geoforum, v. 41, n. 2, p. 169–174, mar. 2010.
RAZAVI, S. The Political and Social Economy of Care in a Development Context: Conceptual Issues, Research Questions and Policy Options. [s.l.] United Nations Research Institute for Social Development, 2007.
SHELLER, M. Infrastructural Reparations: Reimagining Reparative Justice in Haiti and Puerto Rico. Revista Brasileira de Sociologia - RBS, v. 11, n. 28, p. 148–178, 26 out. 2023.

